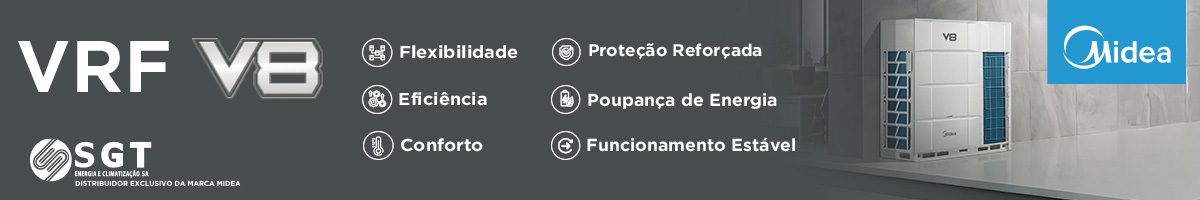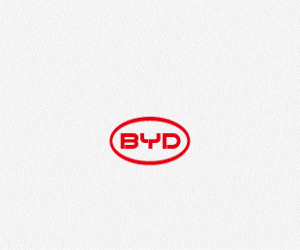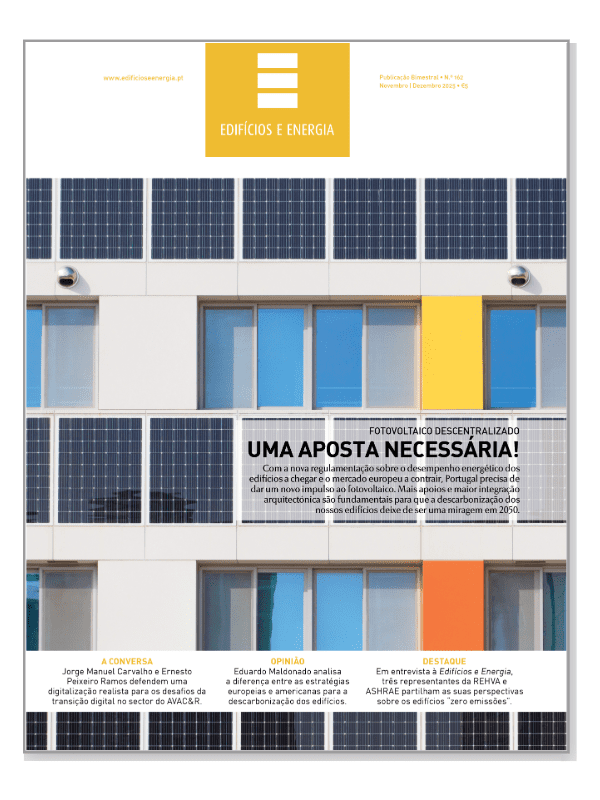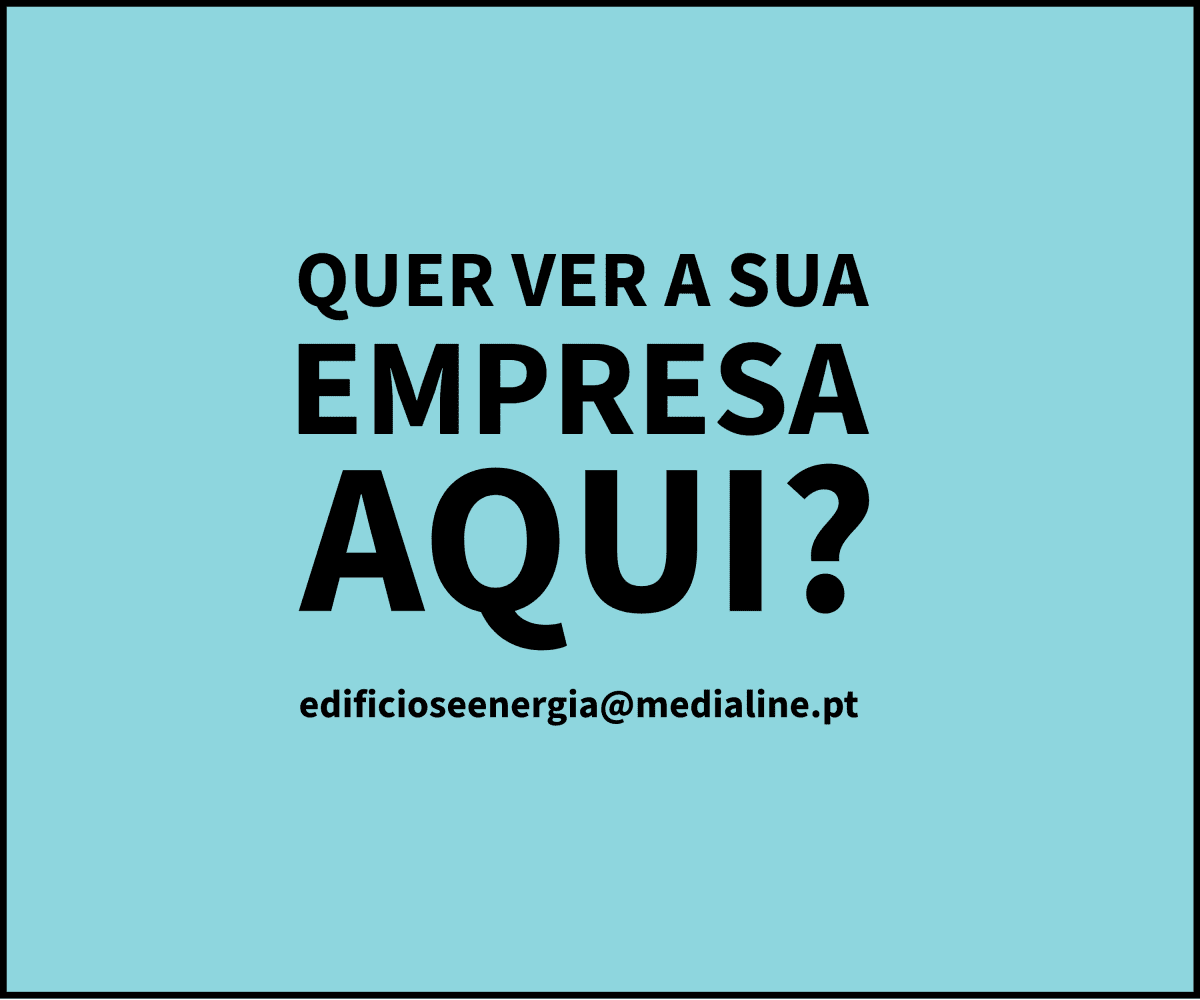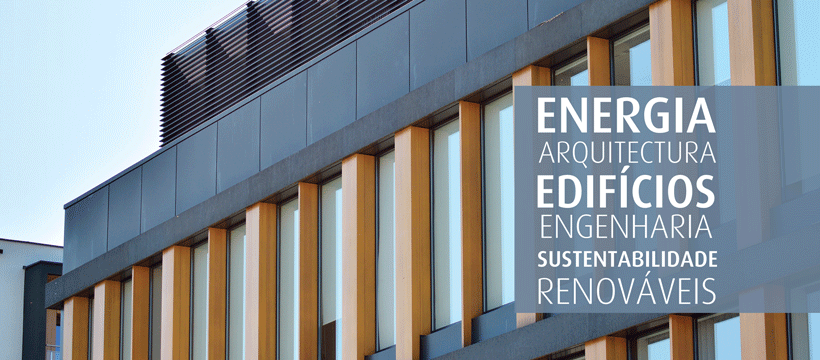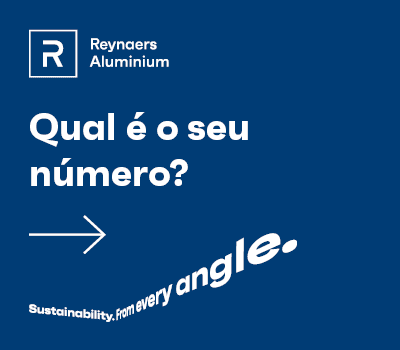Este artigo foi originalmente publicado na edição nº 159 da Edifícios e Energia (Maio/Junho 2025).
Em conversa com João Sousa*, projectista, traçamos um retrato da actividade de projecto no nosso país e dos desafios que se aproximam com a transposição da nova Directiva sobre o Desempenho Energético dos Edifícios (EPBD). A correcção dos projectos, que se tornou habitual, o ritmo acelerado, a falta de mão de obra qualificada, o Simplex, os honorários ou a “corrida à tecnologia que ignora as bases do desempenho térmico: a envolvente do edifício” são alguns dos temas.
Em jeito de balanço, podemos dizer que passámos de uma actividade de projecto que se debatia com pouco trabalho para uma realidade frenética, marcada pela urgência, rapidez e excesso de trabalho?
Nos últimos anos, a actividade de projecto tem sido fortemente influenciada pela conjuntura de mercado e pela necessidade de responder às solicitações do sector. Um sector que tem pressionado as empresas a acelerar os processos na fase de projecto e também na fase de construção. Um sector que tem convivido com diversas crises económicas e sociais, com impacto na incerteza e na volatilidade, e que se tem debatido com a dificuldade em reter profissionais qualificados no país. Uma situação que tem conduzido a um défice de mão de obra especializada, sobrecarregando os profissionais que permanecem, provocando um excesso de trabalho nas empresas de engenharia e afectando a produtividade e a qualidade de vida dos profissionais.
A forma como se projectam edifícios mudou significativamente nos últimos anos. Se recuarmos um pouco no tempo, percebemos que a maioria dos profissionais da área sempre procurou seguir as boas práticas, as normas e os regulamentos internacionais, uma vez que existia pouca regulamentação nacional. No entanto, apesar de existir um diploma orientador desde 1998, só a partir de 2006 é que se começou a verificar uma aplicação mais consistente e generalizada da legislação. É a partir desse momento que o projecto ganha uma nova assertividade, passando a assumir um papel mais estruturado e reconhecido, inclusive por parte dos promotores imobiliários.
Por outro lado, ao longo dos últimos dez anos, a evolução tecnológica — quer ao nível das ferramentas de cálculo, quer das soluções técnicas aplicadas à climatização e eficiência energética dos edifícios — veio alterar significativamente o ritmo, a profundidade e a dinâmica de colaboração no desenvolvimento de projectos. Projectar passou a ser, cada vez mais, um processo multidisciplinar e integrado. Estas características, ainda que favoreçam a inovação e a produtividade, exigem simultaneamente ferramentas colaborativas eficazes e uma coordenação constante entre todos os intervenientes. Esta nova realidade exige uma abordagem mais estratégica, onde a coordenação e a gestão técnica assumem um papel determinante quanto à criatividade e ao rigor dos projectos.
A nossa engenharia é muito reconhecida internacionalmente. Não temos profissionais porque as pessoas vão para fora?
A engenharia portuguesa é, felizmente, muito bem reconhecida a nível internacional. A valorização internacional dos nossos profissionais é um reflexo da qualidade da formação, da capacidade técnica e capacidade de adaptação que possuem. No entanto, essa valorização além-fronteiras tem também o seu lado menos positivo: a crescente saída de engenheiros para o estrangeiro contribui para a escassez de quadros técnicos qualificados em Portugal. A esta realidade somam-se factores como a pressão sobre os salários, a exigência crescente do sector e, em alguns casos, a falta de perspectivas de progressão profissional. Perde-se, assim, talento que poderia estar a contribuir para o desenvolvimento interno, num momento em que o sector exige cada vez mais competências especializadas e capacidade de resposta.
Como por exemplo?
É o caso dos países anglo-saxónicos e nórdicos, para onde muitos dos nossos jovens profissionais têm emigrado. E, curiosamente, muitas vezes nem o fazem por uma questão de remuneração — os salários, em termos proporcionais, já não são tão diferentes dos praticados neste momento em Portugal. Na realidade, actualmente, o mercado nacional já oferece condições significativamente melhores do que há uma década. No entanto, apesar desta evolução, mais de 70% dos nossos recém-licenciados acabam por sair do país. E destes, cerca de 90% são profissionais de engenharia e profissionais da área da saúde. Esta realidade é preocupante e tem sido alvo de reflexão interna na Ordem dos Engenheiros Técnicos, onde procuramos encontrar estratégias para contrariar esta tendência e, acima de tudo, perceber como podemos criar condições para fixar estes profissionais em Portugal.
Se muitas vezes a motivação não é financeira, quais as outras razões?
Muitos engenheiros portugueses procuram experiências profissionais em contextos internacionais, onde podem encontrar desafios diferentes e oportunidades de crescimento que, por vezes, não estão tão acessíveis em Portugal. Em certos casos, mais do que uma simples questão de remuneração, há também a procura por mercados que ofereçam uma maior progressão na carreira, especialização técnica. Mesmo sendo Portugal um país com excelente qualidade de vida, muitos profissionais sentem o apelo de explorar novas culturas, ambientes de trabalho diversificados e contextos mais exigentes do ponto de vista técnico e organizacional. Esta abertura ao mundo é positiva, mas levanta o desafio de como criar condições internas que incentivem o regresso ou, idealmente, evitem a saída dos nossos melhores quadros.
Há um novo mercado que se tem aberto para a correcção dos projectos. Qual a razão?
Os projectos continuam a ser encomendados a ritmos apertados e com margens reduzidas — uma consequência de como opera o sector da construção em Portugal, que reside na racionalização dos preços desde a fase de conceção (bem como logo na fase de projecto), e consequentemente, na forma como são organizadas e contratualizadas as equipas de projecto associado. Em muitos casos, assistimos à constituição de equipas pela contratualização de empresas centrais que, depois, subcontratam as especialidades técnicas, adjudicando os trabalhos à proposta mais barata das empresas contactadas, independentemente da sua qualidade, experiência ou grau de envolvimento no processo de conceção.
Esta prática está enraizada na ideia — profundamente errada — de que as especialidades de engenharia, na fase de projecto, servem apenas para responder às exigências legais e processuais, como o licenciamento ou a submissão de documentação formal. Quando se reduz o papel das engenharias a um mero exercício burocrático, o que se está a fazer é amputar o potencial técnico, criativo e estratégico das especialidades de engenharia.

João Sousa
O resultado é previsível: surgem lacunas, omissões e incompatibilidades que têm de ser resolvidas mais tarde, muitas vezes já em fase de obra, com custos acrescidos e perda de eficiência global. Pior, cria-se um mercado — o da “engenharia de correcção” — que consome recursos e tempo que poderiam ter sido evitados com um planeamento mais sério e integrado logo à partida.
Esta forma de trabalhar, infelizmente, constrói uma reputação negativa do sector português lá fora. Em alguns mercados mais maduros, como os países nórdicos, existe a percepção de que os portugueses “gostam de gastar dinheiro várias vezes para resolver o mesmo problema”. E isso não decorre da falta de competência técnica, mas sim da estrutura de funcionamento do mercado e da cultura de adjudicação pelo preço mais baixo, em vez da competência e da experiência.
A solução passa por revalorizar o tempo e o espaço do projecto, dar-lhe o peso que merece e garantir que os promotores compreendem o valor de um bom projecto bem coordenado à primeira. Corrigir é caro, e muitas vezes é também ineficaz. Projectar bem, de forma integrada e colaborativa, continua a ser a forma mais económica e segura de garantir qualidade e desempenho na construção.
A pressa no licenciamento também é uma dificuldade?
Um dos grandes desafios que enfrentamos actualmente é a pressão exercida sobre os prazos de licenciamento. É perfeitamente compreensível que os promotores demorem tempo a estruturar o modelo económico dos empreendimentos — esse é, aliás, um passo fundamental para a viabilidade dos projectos. No entanto, após tomada a decisão de avançar com o investimento, o tempo disponível para desenvolver o projecto é extremamente reduzido.
A prática corrente nos países nórdicos e anglo-saxónicos consiste em dedicar muito mais tempo à fase de conceção, procurando, desde logo, estabilizar as soluções técnicas em estreita articulação com a arquitectura e promotores.
Este contraste é particularmente evidente quando comparamos com a realidade portuguesa.
Com a nova metodologia das comunicações prévias do Simplex Urbanístico tudo ficou ainda mais complicado?
Com a entrada em vigor da metodologia das comunicações prévias no âmbito do Simplex Urbanístico, os desafios para os projectistas agravaram-se significativamente. Embora na nota orientadora da ADENE (Agência para a Energia) se indique que o processo cumpre o previsto no Decreto-Lei n.º 101-D/2020, a realidade é bem mais complexa.
Anteriormente, as câmaras municipais aceitavam uma declaração formal a justificar que o processo de certificação energética se encontrava em fase de análise, uma vez que, na fase inicial do licenciamento, ainda não existiam elementos suficientes para elaborar um Certificado Energético rigoroso. Essa prática reflectia o bom senso necessário para lidar com a natureza iterativa e progressiva dos projectos.
Hoje, essa flexibilidade desapareceu. As autarquias recusam qualquer tipo de justificação, exigindo, desde logo, o pré-certificado energético, o que obriga a que todos os projectos tenham um desenvolvimento mais detalhado — incluindo os projectos de estruturas, arquitectura, instalações mecânicas, iluminação e outros. Ora, esta exigência entra em conflito directo com a prática corrente de desenvolvimento dos projectos, onde é técnica e logisticamente impossível apresentar um nível de detalhe tão elevado logo na fase de licenciamento.
O que se verifica, portanto, é uma desconexão entre a regulamentação e a realidade operacional dos profissionais da área, o que introduz obstáculos desnecessários entre os diversos organismos e intervenientes.
Um problema também para o promotor?
Este cenário não representa apenas um desafio para os projectistas — é também um problema significativo para os promotores. Afinal, quem está disposto a financiar um projecto de execução completo sem ter garantias de que a Câmara Municipal aprovará a obra? Este é um dos principais entraves do modelo actual: continuamos a operar num sistema de licenciamento que exige um nível de definição próprio do projecto de execução, mas sem oferecer a segurança jurídica ou técnica que o justifique.
Nos países europeus mais avançados nesta matéria, a abordagem é distinta. A responsabilidade pelo cumprimento da regulamentação recai directamente sobre os projectistas. O licenciamento, nesses contextos, transforma-se numa formalidade técnica: desde que o projecto cumpra escrupulosamente os regulamentos vigentes, a sua aprovação é garantida. Esta metodologia atribui maior responsabilidade aos profissionais, mas também maior previsibilidade e eficiência ao processo.
Em Portugal, para além das exigências antecipadas, mantemos ainda um problema estrutural que tem persistido: muitos promotores optam por desenvolver apenas os projectos simplificados para submissão à Câmara e sem pretenderem que se desenvolvam projectos de execução mais detalhados. Posteriormente, contratam directamente um instalador para executar a obra, muitas vezes sem supervisão adequada ou integração com os conceitos iniciais do projecto. O resultado é uma transferência de responsabilidade e controlo técnico do projectista para o instalador, o que compromete a qualidade final da obra e o desempenho do edifício.
Idealmente, o comissionamento deveria ser uma prática regular?
A ausência de uma prática sistemática de comissionamento na execução das instalações técnicas dos edifícios em Portugal é um dos principais entraves à garantia da qualidade final e do desempenho energético expectável. O comissionamento, entendido como um processo estruturado e independente de verificação da instalação, operação e desempenho de todos os sistemas técnicos, deveria ser uma prática regular e obrigatória — o que ainda está longe de acontecer.
O comissionamento continua a ser deficientemente enquadrado do ponto de vista legislativo. No Decreto-Lei n.º 101-D/2020, subsiste uma confusão entre ensaios e comissionamento. O diploma prevê que os instaladores realizem os ensaios, mas não define claramente a necessidade de uma entidade externa e independente que coordene, verifique e assuma a responsabilidade final do processo de comissionamento — como acontece nos mercados mais evoluídos, e em vários países europeus.
Esta separação de responsabilidades é essencial. Da mesma forma que o projectista e o Perito Qualificado não podem ser a mesma entidade, para garantir a imparcialidade no projecto e na certificação energética, também os ensaios e comissionamento dos sistemas técnicos não devem estar sob a competência da mesma entidade. O projectista pode e deve acompanhar os ensaios, mas, também neste caso, deve ser uma entidade externa a realizar o comissionamento.
Se o investimento na qualidade e os honorários acompanhassem, esse envolvimento seria uma prática normal.
Se o investimento na qualidade do projecto acompanhasse o grau de responsabilidade exigido aos projectistas, o seu envolvimento até à fase de obra e comissionamento seria, naturalmente, uma prática normal. Contudo, o actual modelo contratual, sobretudo nos concursos públicos, muitas vezes dificulta esse acompanhamento mais profundo.
A legislação nacional, primeiro com a Portaria n.º 701-H/2008 e, mais recentemente, com a transposição para o Decreto-Lei n.º 255/2023, define claramente a obrigatoriedade da revisão de projecto e da fiscalização em obra nos contratos públicos.
Seria mais racional e eficaz investir directamente na valorização dos honorários dos projectistas. Com mais recursos e tempo, seria possível desenvolver projectos com maior detalhe e qualidade técnica, reduzindo a necessidade de revisão posterior e de correcções em obra. Esta abordagem permitiria uma melhor integração entre arquitectura e engenharia desde as fases iniciais.
As marcas, por vezes, ajudam o cliente final no projecto e a resolver problemas. É uma consequência das dificuldades de que já falámos?
A crescente intervenção das marcas de equipamentos no apoio ao cliente final ou até no próprio desenvolvimento técnico dos projectos é, em parte, reflexo das dificuldades estruturais já identificadas no sector, nomeadamente, a desvalorização dos honorários, a escassez de tempo para a fase de conceção e a fragmentação das responsabilidades no processo de projecto e obra.
Não há mal em envolver as marcas. Pelo contrário, ninguém melhor do que os próprios fabricantes para conhecerem as capacidades e limitações dos seus produtos, e algumas dessas empresas até têm projectistas nos seus quadros que acrescentam valor na fase de definição de soluções. É prática comum, na fase inicial de estudo e avaliação, recorrer a essas equipas para viabilizar técnico-economicamente as soluções a desenvolver no projecto.
O problema surge quando se confunde esse apoio técnico com o próprio processo de projecto. Projectar não é escolher equipamentos. A actividade de projecto é muito mais abrangente. Infelizmente, há ainda muitos profissionais e entidades que reduzem as especialidades de engenharia a uma simples assemblagem de equipamentos, como se o projecto se resumisse à selecção de máquinas.
Ora, essa visão é redutora. A escolha do equipamento adequado é apenas uma etapa no desenvolvimento de um projecto, que envolve a análise do contexto arquitectónico, a avaliação técnico-económica de diversas soluções, a previsão de consumos e rendimentos, a definição de estratégias de integração de sistemas e, claro, a compatibilização com as restantes especialidades.
Importa ressalvar que os equipamentos representam, muitas vezes, mais de 50% do valor total da empreitada. Isso exige um nível de rigor e análise técnica elevado, que só pode ser garantido por um projecto bem estruturado e com tempo de maturação suficiente. Quando este trabalho não é feito por equipas independentes e experientes, abre-se espaço para decisões enviesadas, soluções sobredimensionadas ou pouco optimizadas e, em última instância, para investimentos que não trazem retorno ao promotor nem conforto real ao utilizador final.
Estamos em condições de cumprir a ambição de descarbonizar os edifícios até 2050?
Depende do que estamos a considerar como meta. Estamos a falar de descarbonizar todos os edifícios? Ou de garantir que todos sejam NZEB (Nearly Zero Energy Buildings)? É fundamental separar estas duas realidades, porque os caminhos e as dificuldades associadas são bastante distintos.
Quando falamos de edifícios novos, a ambição é relativamente viável. As ferramentas, o conhecimento técnico e as soluções construtivas e tecnológicas já existem. A regulamentação já está a caminhar nesse sentido e, com maior ou menor esforço, os edifícios novos podem, e devem, alinhar-se com os princípios de neutralidade carbónica.
O grande problema está no parque edificado existente. A reabilitação profunda de edifícios antigos implica intervenções muito mais complexas, dispendiosas e, muitas vezes, tecnicamente limitadas por questões patrimoniais, construtivas ou urbanísticas. Reabilitar termicamente edifícios existentes, por exemplo, requer um esforço logístico e económico muito superior ao necessário num edifício novo. Além disso, muitas dessas intervenções não são financeiramente viáveis para os proprietários sem incentivos públicos.
Outro factor crítico é a ausência de uma estratégia nacional integrada e continuada que articule políticas públicas, financiamento, capacitação técnica e sensibilização da sociedade.
A meta de 2050 não será atingida apenas com boas intenções. Exige planos concretos, medidas coerentes e um enorme investimento, não só financeiro, mas também cultural e institucional.
Resumindo, a neutralidade carbónica nos edifícios novos é uma meta ao nosso alcance. Já a descarbonização do parque edificado existente é um desafio de outra dimensão, para o qual ainda não estamos verdadeiramente preparados, nem em termos operacionais, nem de escala de intervenção.
O grande desafio está na reabilitação?
Sem dúvida. Não temos, neste momento, capacidade financeira nem estrutural para fazer uma reabilitação em massa do parque edificado existente. E estamos a falar de um parque de edifícios com sistemas técnicos instalados com muitas décadas que, em muitos casos, ainda recorrem a equipamentos que consomem gás natural. A substituição por bombas de calor não é apenas uma troca directa de equipamentos: é uma mudança estrutural. Obriga à substituição das tubagens, dos equipamentos locais, dos sistemas de controlo, uma vez que um equipamento concebido para operar a 80 °C não terá o mesmo desempenho se for colocado a trabalhar com 45 °C. Tecnicamente, é uma solução altamente intrusiva e, sobretudo, muito dispendiosa.
A Comissão Europeia foi ambiciosa na definição dos seus objectivos, e isso é louvável. Mas é preciso reconhecer que nem todas as realidades europeias estão no mesmo ponto de partida. Em muitos países, nomeadamente do sul da Europa, o esforço exigido ao sector da construção, e às famílias, é substancialmente maior. E esta pressão regulamentar acontece num momento em que a Europa perdeu grande parte da sua influência económica global. Estamos a impor restrições severas a um mercado que já enfrenta inúmeros desafios internos, enquanto o resto do mundo, incluindo grandes economias, continua a abordar estas questões com outra flexibilidade.
Defendemos o avanço tecnológico e a descarbonização como um imperativo ético e ambiental. Mas é necessário que esta transição seja equilibrada, realista e justa, tanto do ponto de vista técnico, como económico e social.
A electrificação renovável está na base da estratégia de descarbonização energética do parque edificado, para a qual as bombas de calor e o fotovoltaico são peças essenciais. Não deveríamos também recentrar as estratégias nos aspectos construtivos como os isolamentos, por exemplo?
A electrificação renovável é, de facto, um dos grandes pilares da estratégia europeia e nacional de descarbonização do sector dos edifícios. Soluções como as bombas de calor, a produção fotovoltaica descentralizada ou os sistemas de armazenamento eléctrico são essenciais para reduzir as emissões e a dependência de combustíveis fósseis. No entanto, há uma questão de fundo que importa não ignorar: nenhuma solução técnica consegue ser verdadeiramente eficaz se não for precedida por uma abordagem construtiva inteligente e eficiente.
Antes de pensar em sistemas, é preciso pensar na envolvente. O isolamento térmico, a orientação solar, o controlo da ventilação natural, os ganhos solares passivos — tudo isto deve ser tratado como prioridade. A eficiência energética começa nas decisões arquitectónicas e construtivas. O que se tem verificado, muitas vezes, é uma espécie de “corrida à tecnologia” que ignora as bases do desempenho térmico: a envolvente do edifício.
Investir primeiro no isolamento e na redução das necessidades térmicas do edifício permite, não só reduzir a dimensão necessária dos sistemas mecânicos, como também melhorar o conforto térmico e a resiliência à externalidade do clima.
A avaliação e qualificação da envolvente deve ser o primeiro passo de qualquer estratégia de eficiência, e não um mero exercício de cumprimento regulamentar. Se reduzirmos a carga térmica do edifício, também reduzimos os requisitos do AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) e, consequentemente, os custos de instalação e exploração.
Portanto, mais do que somar soluções tecnológicas, precisamos de rever a ordem da estratégia: começar pela envolvente, consolidar a eficiência passiva e só depois electrificar com base em fontes renováveis. Esta lógica não só é mais racional do ponto de vista técnico, como é mais eficaz em termos económicos e ambientais.
Essa é a verdadeira sustentabilidade.
O desafio passa também pela comunicação. Muitos promotores e donos de obra já têm esta visão integrada. Mas, nas equipas de projecto, essa articulação ainda não está totalmente enraizada. A solução passa por reforçar a coordenação técnica desde as fases iniciais e por envolver todas as disciplinas com uma abordagem colaborativa desde a conceção.
Só assim será possível garantir que os edifícios do futuro não são apenas eficientes do ponto de vista dos equipamentos, mas estruturalmente preparados para resistir às exigências climáticas e energéticas do século XXI.
A principal crítica ao Sistema de Certificação Energética (SCE) está na falta de racionalidade e viabilidade económica no que se refere às medidas de melhoria que são identificadas no certificado. Como contornar?
Essa crítica não deve ser dirigida ao Sistema de Certificação Energética em si, mas sim à forma como muitos profissionais o interpretam e aplicam. Não se trata de “contornar”, palavra que, infelizmente, é muito usada na gíria da construção portuguesa, mas sim de cumprir, com rigor e competência, os regulamentos em vigor.
Quando estamos a avaliar um edifício ou um projecto, as medidas de melhoria que propomos devem ser coerentes e tecnicamente viáveis, mas também economicamente justificadas. E isso exige conhecimento, responsabilidade e ética profissional. Não é o regulamento que falha, é a falta de critério técnico de quem o aplica de forma acrítica ou automática. Cabe-nos, enquanto engenheiros, assegurar que as soluções apresentadas têm fundamento e são ajustadas à realidade concreta do edifício e do seu contexto.
O que seria preciso acautelar nesta nova regulamentação que vai sair?
A nova regulamentação que está em preparação deve ser uma oportunidade para clarificar responsabilidades, reforçar a qualidade técnica e garantir coerência entre as diferentes fases do projecto, desde o concurso até à obra construída.
Existem aspectos fundamentais que não necessitam de ser excessivamente regulados, mas sim enquadrados com bom senso técnico. O desenvolvimento de uma obra, em que é necessária uma elevada coordenação, esta não está rigidamente associada a uma profissão específica, seja ela um arquitecto ou um engenheiro. O mais importante é que essa função seja assegurada por alguém com formação sólida e experiência comprovada em coordenação técnica, nomeadamente nas vertentes de eficiência energética, desempenho ambiental e articulação entre especialidades. Pode ser um arquitecto, pode ser um engenheiro, o importante é que tenha currículo e competência prática nesta abordagem integrada desde a fase inicial do projecto.
Na prática, os objectivos de consumo energético devem ser definidos logo na fase de concurso, condicionando as soluções arquitectónicas e técnicas apresentadas. Isto obriga a uma mudança cultural e processual, focando o desenvolvimento do projecto nos targets definidos e não apenas no cumprimento formal dos requisitos.
Outro aspecto crítico que carece de atenção é o Certificado Energético. O actual modelo de comunicação, baseado apenas em classificações como A, B ou C, não é suficientemente esclarecedor para o cidadão comum, que fica sem perceber exactamente o que isso significa em termos reais de consumo ou de custo. Existe um grande trabalho de comunicação por fazer: é necessário aproximar os indicadores técnicos de uma linguagem que as pessoas entendam, utilizar valores comparativos reais, etc., de modo que os utilizadores percebam concretamente o impacto das medidas de eficiência energética aplicadas.
Além disso, o Certificado Energético deveria ser emitido com base num projecto de execução mais detalhado. De acordo com as exigências da Directiva sobre o Desempenho Energético dos Edifícios (EPBD), há uma exigência de precisão que, em Portugal, muitas vezes se perde devido ao momento em que o certificado é emitido, frequentemente antes de se definirem os sistemas que vão realmente ser instalados.
Este desfasamento tem consequências práticas: muitas vezes, os certificados apresentam soluções que não correspondem à realidade construída e, por vezes, até do definido em projecto de execução. E como não existe um acompanhamento sistemático em obra, não existem garantias de que o que foi certificado irá corresponder ao que será executado.
Por tudo isto, é crucial que a nova regulamentação:
• Clarifique o papel da coordenação técnica e promova perfis com experiência em eficiência energética;
• Torne mais transparente e compreensível o conteúdo do Certificado Energético;
• Exija maior rigor na fase de execução e no acompanhamento em obra;
• Assegure a correspondência entre projecto, certificação e construção real.
*João Sousa é engenheiro mecânico, com 25 anos de experiência na execução e gestão de projectos de Instalações Mecânicas (AVAC) nos domínios dos Edifícios, Indústria e Master Planning. Fundador da Green BEELT – Building Energy Efficiency Laboratory Technology. Actualmente exerce as funções de Presidente do Colégio de Engenharia Mecânica da Ordem dos Engenheiros Técnicos e participa activamente em várias comissões técnicas nas áreas da eficiência energética, energias renováveis e sustentabilidade do ambiente construído.
Fotografia de destaque: © Unsplash