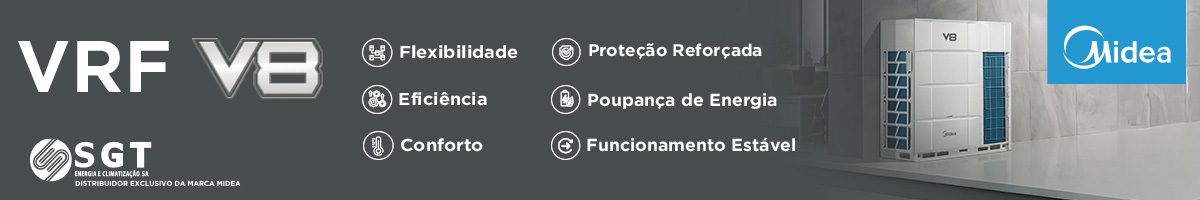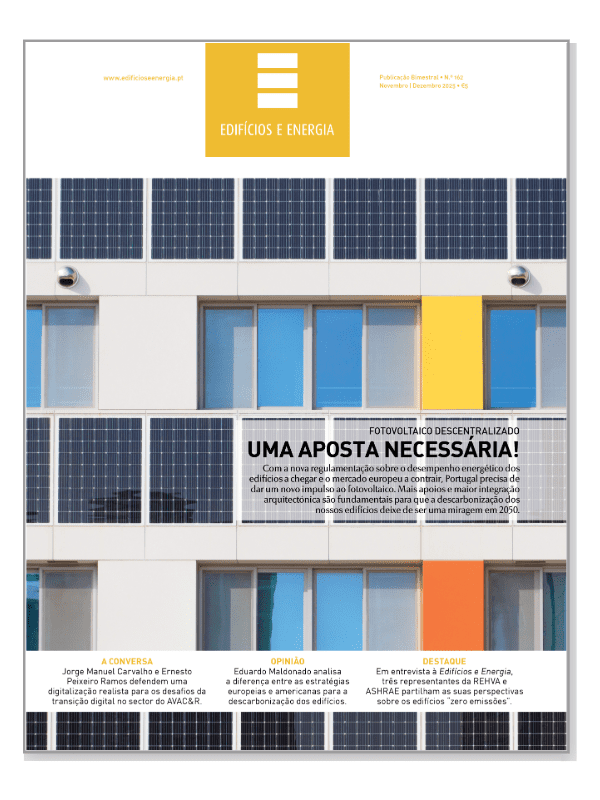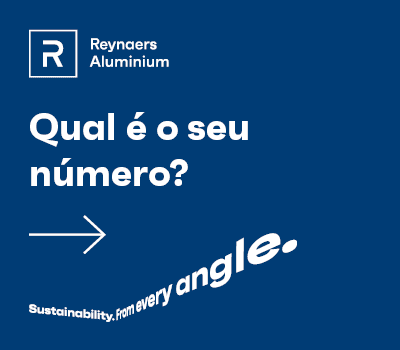Este artigo foi originalmente publicado na edição nº 159 da Edifícios e Energia (Maio/Junho 2025).
O NASCIMENTO DO CERTIFICADO ENERGÉTICO NO INÍCIO DESTE SÉCULO
Quando foi aprovada a primeira versão da EPBD em 2002, a sua transposição em Portugal levou, entre outras medidas, à criação do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE) e à revisão da regulamentação térmica dos edifícios (então, o RCCTE – Regulamento das Caraterísticas de Comportamento Térmico dos Edifícios).
A filosofia subjacente a esta versão do RCCTE (DL 80/2006, de 4 de abril) estimava as necessidades de aquecimento e de arrefecimento dos edifícios tendo em conta que a prática nacional era de aquecimento ou arrefecimento intermitentes, pelo que, embora tivesse sido a primeira versão do RCCTE a calcular as ditas necessidades (Ni e Nv) numa base de garantia permanente de 20 ºC na estação de aquecimento e 25 ºC na estação de arrefecimento, a introdução a este regulamento dizia claramente que “esta nova versão do RCCTE assenta, portanto, no pressuposto de que uma parte significativa dos edifícios vêm a ter meios de promoção das condições ambientais nos espaços interiores, quer no Inverno quer no Verão, e impõe limites aos consumos que decorrem dos seus potenciais existência e uso”. Não se pode, porém, falar em consumos padrão, nomeadamente no subsetor residencial, já que a existência de equipamentos ou mesmo de sistemas instalados não significa o seu uso permanente, tendo em conta a frugalidade tradicional no conforto doméstico que o clima naturalmente favorece. Tais valores continuam a ser meras referências estatísticas.
A mais significativa novidade para o público foi a introdução dos Certificados Energéticos (CE), já lá vão cerca de 15 anos, que passaram a ser obrigatórios para novas vendas e novos arrendamentos de edifícios ou das suas frações, se as houver, como ainda hoje acontece. Com alguma natural resistência inicial, o CE tornou se, com o tempo, algo de indispensável nos atos formais de venda e muito habitual como anexo obrigatório aos contratos de arrendamento, graças a um saudável esforço persistente de atuação junto das entidades onde se formalizam esses contratos. Mas, infelizmente, na maioria dos casos, não é mais do que uma mera formalidade, mais um papel que há que juntar ao processo e que ninguém lê.
Em 2002, o Certificado Energético nasceu com o objetivo primário de permitir comparar entre si edifícios e frações em termos da sua eficiência energética, semelhante ao bem estabelecido mecanismo usado para os eletrodomésticos.
A única informação mais relevante do CE para o público será, porventura, a Classe Energética, mas o comprador continua a privilegiar frequentemente outros aspetos, como o preço, a localização, a vista, a distribuição interna dos espaços, entre outros. Já estava na primeira versão nacional dos CE, e está agora presente ainda com mais relevo nas versões mais recentes dos Certificados, um campo com recomendações de melhoria… infelizmente, a maioria das vezes, são medidas triviais ou irrealistas, como já tive oportunidade de comentar noutro artigo recente. Mas, sobretudo, baseadas nos tais valores de necessidades energéticas (consumos de energia!) que o RCCTE de 2006 classificava como uma “mera referência estatística” e que não correspondiam então, como não correspondem hoje, à realidade na grande maioria dos edifícios residenciais (e talvez também em muitos edifícios de serviços) portugueses.

A principal intenção do CE em 2002 foi sempre, e sobretudo, oferecer uma base objetiva de comparação entre dois ou mais edifícios, ou unidades de alojamento, sob condições nominais uniformes para todos. NUNCA foi intenção do CE indicar um valor de consumo energético realista para esse edifício ou fração. Tal só é possível com uma auditoria detalhada e com uma caraterização detalhada do padrão de utilização. Portanto, transformar o valor das necessidades nominais (Ni e Nv) que constam dos CE em consumos reais espectáveis e usar estes valores como base para quantificação de poupanças (em energia e em euros) resultantes de uma qualquer medida de melhoria sugerida é uma desonestidade intelectual e um logro quer para o utente do CE quer para extrapolar estimativas de potenciais eventuais reduções de consumos de energia resultantes das renovações de edifícios existentes a nível nacional.
Em 2002, o Certificado Energético nasceu com o objetivo primário de permitir comparar entre si edifícios e frações em termos da sua eficiência energética, semelhante ao bem estabelecido mecanismo usado para os eletrodomésticos. Todos os demais conteúdos dos CE (nomeadamente, as recomendações ou sugestões de melhoria) eram indicativos, meras sugestões, e de menor importância relativa.
O CERTIFICADO ENERGÉTICO COMO FERRAMENTA PARA INCENTIVOS À RENOVAÇÃO APÓS 2020
A intensificação da luta contra as alterações climáticas levou a Comissão Europeia a estabelecer, década e meia depois da primeira EPBD, um novo objetivo de descarbonizar totalmente o Setor dos Edifícios na Europa até 2050, e com objetivos intermédios, nomeadamente para 2030 (programa Fit for 55). Desde logo se compreendeu a necessidade de reabilitação de todo o edificado, pois a maioria dos edifícios existentes em 2050 já estava construída e estava muito longe de ser carbono zero.
É relativamente fácil impor que os edifícios novos cumpram o requisito de carbono zero (ou emissões zero) mediante a aprovação de regulamentação adequada que imponha um desempenho energético, limites às emissões de carbono e, até, limites ao carbono embebido na construção, em função das metas que deviam ser progressivamente cada vez mais exigentes, em linha com as metas das políticas adotadas a nível nacional e europeu. E digo “relativamente fácil”, não porque seja fácil fazer regulamentos eficazes e inteligentes (há muita coisa a considerar e fazer um novo regulamento é sempre um exercício delicado de compromissos políticos, técnicos, económicos e administrativos, entre outros), mas porque é muito mais fácil garantir que edifícios novos sejam carbono zero, ou muito eficientes, do que converter os edifícios existentes, geralmente muito pouco eficientes, em edifícios mais eficientes e mais próximos do carbono zero. Esta é uma tarefa difícil, ciclópica, muito dispendiosa, exigindo muita mão de obra qualificada e, quase, talvez me atreva a dizer, com muita pena minha, utópica.
A EPBD foi evoluindo em conformidade com a evolução das políticas europeias e, só em 2018, a nova EPBD (Diretiva 2018/844 de 30 de maio) especificava, pela primeira vez, a obrigatoriedade de os Estados-Membros estabelecerem e concretizarem uma “Estratégia de Renovação a Longo Prazo” que, em Portugal, foi consubstanciada pela ELPRE (Estratégia de Longo Prazo para a Renovação dos Edifícios), publicada sob a forma de Resolução do Conselho de Ministros nº 8-A/2021, de 3 de fevereiro. Deste documento só quero realçar que prevê a renovação de 100% dos edifícios existentes (não 95%, nem 99%, são mesmo 100%) e que o custo então estimado para descarbonizar todo o edificado anterior a 2018 era de, apenas, 143 mil milhões de euros.
Uma bagatela. Só para referência, o Produto Interno Bruto (PIB) português em 2021 foi de cerca de 215 mil milhões de euros, ou seja, este montante exigiria 66% do PIB desse ano, ou seja, 2,2% do PIB por ano durante 30 anos. O atual valor do PIB nacional é de cerca de 300 mil milhões de euros, mas o custo da construção (e da renovação) também subiu consideravelmente com a inflação dos últimos anos, pelo que o esforço financeiro deve continuar a ser, hoje, da mesma ordem de grandeza.
A utilização dos certificados energéticos para demonstrar a melhoria do desempenho energético dos edifícios intervencionados foi correta. Só não foi correta a contabilização das poupanças que resultaram das intervenções, pelas mesmas razões já apontadas anteriormente. A relação custo-benefício destas intervenções foi demasiado sobreavaliada.
A renovação da ELPRE, prevista para o final de 2025, tal como exigido pela mais recente EPBD (de 2024) trará números mais atualizados, eventualmente objetivos revistos e mais realistas, mas também provavelmente com um maior peso orçamental relativo em termos anuais, pois o que já foi feito em termos de renovação desde 2021 até ao presente ficou muito aquém do necessário para cumprir a meta, assumindo uma realização linear da despesa (o que não corresponde à realidade, pois, no Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica, de 2020, já se previa que o esforço para a renovação dos edifícios fosse menor nos primeiros anos e fosse crescendo gradualmente, com a maior taxa de esforço para a última década e meia anterior a 2050).
Para iniciar a renovação, o setor público deu o exemplo com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e dos Fundos de Coesão, e outras verbas nacionais, recuperando edifícios públicos de serviços e do parque da habitação social. Não foram muitos, mas foi o que as verbas e os recursos nacionais permitiram.
Para a renovação do edificado do setor privado, o Estado criou sistemas de incentivos relativamente limitados, de poucas centenas de milhões de euros, que, para demonstrar a melhoria do edifício antes e depois da intervenção, recorreram ao Certificado Energético, antes e depois da intervenção. Trata-se de uma utilização legítima do CE, que demonstraria, na base do modelo de utilização padrão a que recorre, se o desempenho térmico e energético do edifício melhoraria ou não com a intervenção apoiada. O “pecado” desta metodologia só pode ser se quem investiu acreditou nas poupanças indicadas nos certificados, já que os investimentos, esses, seriam do seu conhecimento pleno. De qualquer forma, o que se verificou foi sobretudo o aproveitamento dos apoios públicos por quem já queria, de qualquer maneira, renovar as suas propriedades, e aproveitou a ajuda do Estado para reduzir os investimentos.
Foram muitos os sistemas fotovoltaicos instalados, bem como as bombas de calor (vulgo ar condicionado) para climatização, algumas remodelações de envidraçados simples por duplos, mas muito poucos isolamentos e outras medidas semelhantes que deveriam ter sido a prioridade para os apoios: primeiro reduzir as necessidades do edifício, e só depois instalar formas mais eficientes, renováveis, sustentáveis, de satisfazer as necessidades já mais reduzidas. Esse foi o princípio subjacente à EPBD e ao conceito de NZEB (Nearly-Zero Energy Buildings). Apoiar a instalação de bombas de calor ou painéis fotovoltaicos sem primeiro melhorar a eficiência da envolvente do edifício é algo que devia ter sido evitado. Foi um enorme erro. A instalação de bombas de calor só devia ter sido financiada se fosse acompanhada de uma redução real das necessidades de aquecimento e de arrefecimento ambiente dos edifícios ou frações onde foram instalados.
De qualquer forma, a utilização dos certificados energéticos para demonstrar a melhoria do desempenho energético dos edifícios intervencionados foi correta. Só não foi correta a contabilização das poupanças que resultaram das intervenções, pelas mesmas razões já apontadas anteriormente. A relação custo-benefício destas intervenções foi demasiado sobreavaliada.
O CERTIFICADO ENERGÉTICO COMO INSTRUMENTO PARA A DESCARBONIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS EXISTENTES
A descarbonização dos edifícios existentes coloca desafios específicos para os quais o CE inicial (e posteriores revisões) não estava preparado, pelo menos em Portugal. Se se mantém válido para identificar os edifícios e as frações com pior desempenho energético e, portanto, os candidatos prioritários a intervenções de reabilitação energética, falha também, para além da já referida estimativa das poupanças reais derivadas das medidas de melhoria, na perspetiva do tratamento dos edifícios de habitação multifamiliares ou de edifícios de serviços com várias frações independentes, tipologias muito frequentes, quase dominantes, nas cidades portuguesas. Ao só permitir a emissão de CE para cada fração autónoma (o objetivo expresso do CE concebido no início do SCE foi o especificado no nº 5 do artigo 1º do Despacho nº 10250/2008 do DGEG, de 8 de abril: “O objeto de certificação é, por princípio, cada uma das menores unidades do edifício que podem ser objeto de venda, de locação ou de outra forma de cedência contratual de espaço, incluindo o arrendamento, as quais correspondem, geralmente, às frações autónomas constituídas ou passíveis de ser constituídas.”), falha completamente na identificação das oportunidades de melhorias mais importantes nessa tipologia de edifícios, as relativas à renovação da envolvente exterior (e envolvente interior com requisitos) que dependem de aprovação por todo o condomínio.
Embora, na realidade, o referido artigo permitisse que “a totalidade do edifício, composto pelo conjunto das respetivas frações autónomas, pode também, cumulativamente ou não com essas frações ou unidades do edifício, ser objeto da certificação”, esta opção, que é essencial para resolver a questão das intervenções nos condomínios, nunca foi realmente implementada ou, pelo menos, incentivada. E, sem esse CE relativo a todo o edifício, as potencialmente mais importantes medidas de renovação das frações autónomas não vão poder ser sugeridas ao utente do CE da fração, a menos que haja uma intervenção global em todo o edifício.
Impõe-se, portanto, uma reformulação do SCE, por forma a não ser dirigido apenas à emissão de CE aquando da transmissão ou arrendamento de frações. Terá de passar também a promover a emissão de certificados para edifícios com mais do que uma fração (condomínios), dedicados a “atacar” a questão da renovação eficaz da envolvente desses edifícios.
Não é uma alteração fácil, pois coloca várias questões de ordem legal. Quem tem interesse nesta tipologia de certificado? De forma voluntária, apenas os (poucos) condomínios que queiram fazer uma intervenção significativa no seu prédio. Por outro lado, obrigar à emissão destes certificados, que (hoje) não servem para nada, também não parece viável. Estas intervenções no edifício são dispendiosas e obrigam à comparticipação de todos os condóminos e a aprovação em assembleia de condóminos por maioria qualificada. E prevejo frequentes discussões acaloradas nessas reuniões, face ao desequilíbrio entre quem paga e quem beneficia. Por exemplo, nas frações num piso térreo sobre uma garagem comum, uma óbvia medida de melhoria seria isolar o teto da garagem, mas tal só é possível se todas as frações desse piso colocarem o isolamento. E quem deve pagar? Só essas frações do piso térreo ou todo o condomínio, pois a garagem é um espaço comum? É que o benefício vai para uns quantos, mas os demais, que nada beneficiam, também devem pagar em função da sua permilagem? Poderia dar outro exemplo óbvio: isolar as coberturas das frações superiores – novamente, todos pagam e apenas alguns beneficiam.
Uma vez que a nova EPBD vai obrigar a mudar a Lei, aproveite-se a ocasião para que o SCE não sofra apenas mais uma intervenção menor um “retoque”, como nas últimas revisões da EPBD, mas que se aproveite para pensar fora da caixa, para o reinventar, para aplicar a tal “major renovation” ao SCE.
São questões reais que têm implicações legais, que talvez justifiquem alterações ao regime legal dos condomínios, mas que podem ser uma barreira importante à reabilitação energética de edifícios multifamiliares (ou edifícios de serviços com várias frações). Não há uma resposta óbvia nem fácil. Tem de ser inventado um novo regime legal justo e funcional, expedito, menos dependente de assembleias de condomínios, que permita a viabilização rápida de algumas intervenções essenciais em edifícios com várias frações.
Contudo, os CE globais (não por fração) para edifícios com mais do que uma fração serão essenciais para o cumprimento da meta da descarbonização do Setor dos Edifícios, bem como para levar a bom termo todos os planos de descarbonização em curso em muitos municípios nacionais. Sem eles, nunca iremos atingir a meta.
A “MAJOR RENOVATION” DO SCE E DOS CERTIFICADOS ENERGÉTICOS
O SCE e os CE foram criados com objetivos concretos, no contexto da EPBD de 2002. Embora os objetivos de 2002 continuem válidos e, portanto, os atuais CE continuem a ser relevantes para o fim para o qual foram concebidos, as políticas evoluíram e, agora, a meta passou também a ser o que em 2002 era apenas uma miragem para alguns poucos: descarbonizar o Setor dos Edifícios até 2050.
Um instrumento concebido para um fim não será eficaz quando o objetivo muda para algo muito mais ambicioso: os instrumentos têm também de evoluir em consonância com os novos objetivos. Daí ter surgido entretanto uma ELPRE que não havia no início do SCE, por exemplo. Tentar fazer os CE e o SCE concebidos com um fim concreto e distinto, muito mais limitado e focado, serem os mesmos instrumentos, com pequenas alterações, a maioria das quais meramente cosméticas, utilizados para permitirem concretizar o novo objetivo muito mais ambicioso, que exige uma banda de atuação mais generalizada, e melhor quantificação das reais necessidades energéticas, não vai resultar. Tem de mudar.
Uma vez que a nova EPBD vai obrigar a mudar a Lei, aproveite-se a ocasião para que o SCE não sofra apenas mais uma intervenção menor um “retoque”, como nas últimas revisões da EPBD, mas que se aproveite para pensar fora da caixa, para o reinventar, para aplicar a tal “major renovation” ao SCE. E, dentro deste reinventar o SCE, que passemos a, pelo menos, ter:
1) Níveis de exigência crescentes, que corrijam os erros que têm sido apontados nos CE, que por vezes dão melhor classe a quem usa gás natural do que uma bomba de calor, ou que permite que um edifício que não cumpria o RCCTE (ou o primeiro REH) possa cumprir o regulamento hoje em vigor;
2) Certificados Energéticos para edifícios multifamiliares como um todo, aplicados de forma generalizada (quase que valeria a pena oferecer estes certificados, cuja procura deve ser quase nula no presente, a todos os condomínios nacionais e exigir a sua discussão em assembleia de condóminos); e
3) Medidas de melhoria identificadas nos CE obrigatoriamente credíveis e realistas.
Esta renovação do SCE seria um passo importante para continuarmos a pensar que podemos descarbonizar o Setor até 2050 (ou será até 2045?), se os fundos necessários para tal aparecerem, públicos e privados. Sem corrigir estes aspetos técnicos críticos, sem os financiamentos aparecerem, a meta da descarbonização (na Europa) não passará de uma miragem (noutras geografias, infelizmente, e apesar de toda a evidência científica e pressões das Nações Unidas, já parece até uma ideia metida na gaveta).
Fotografia de destaque: © Shutterstock
As conclusões expressas são da responsabilidade dos autores.