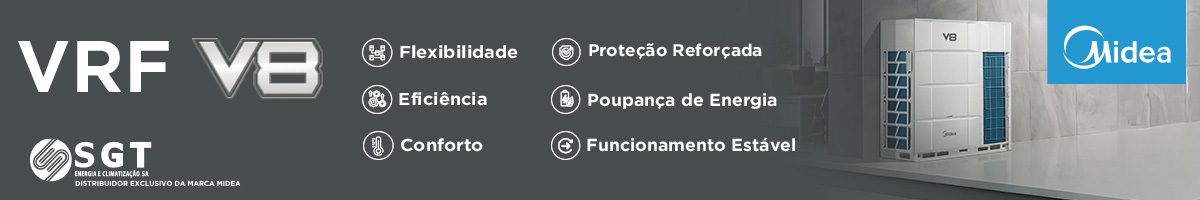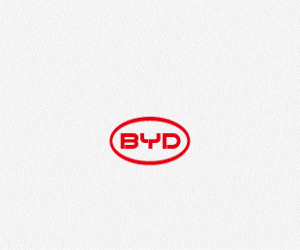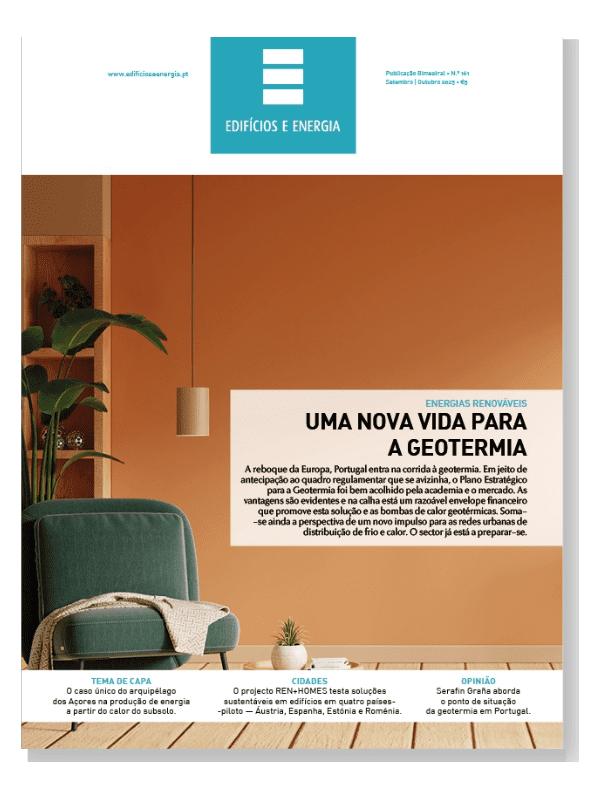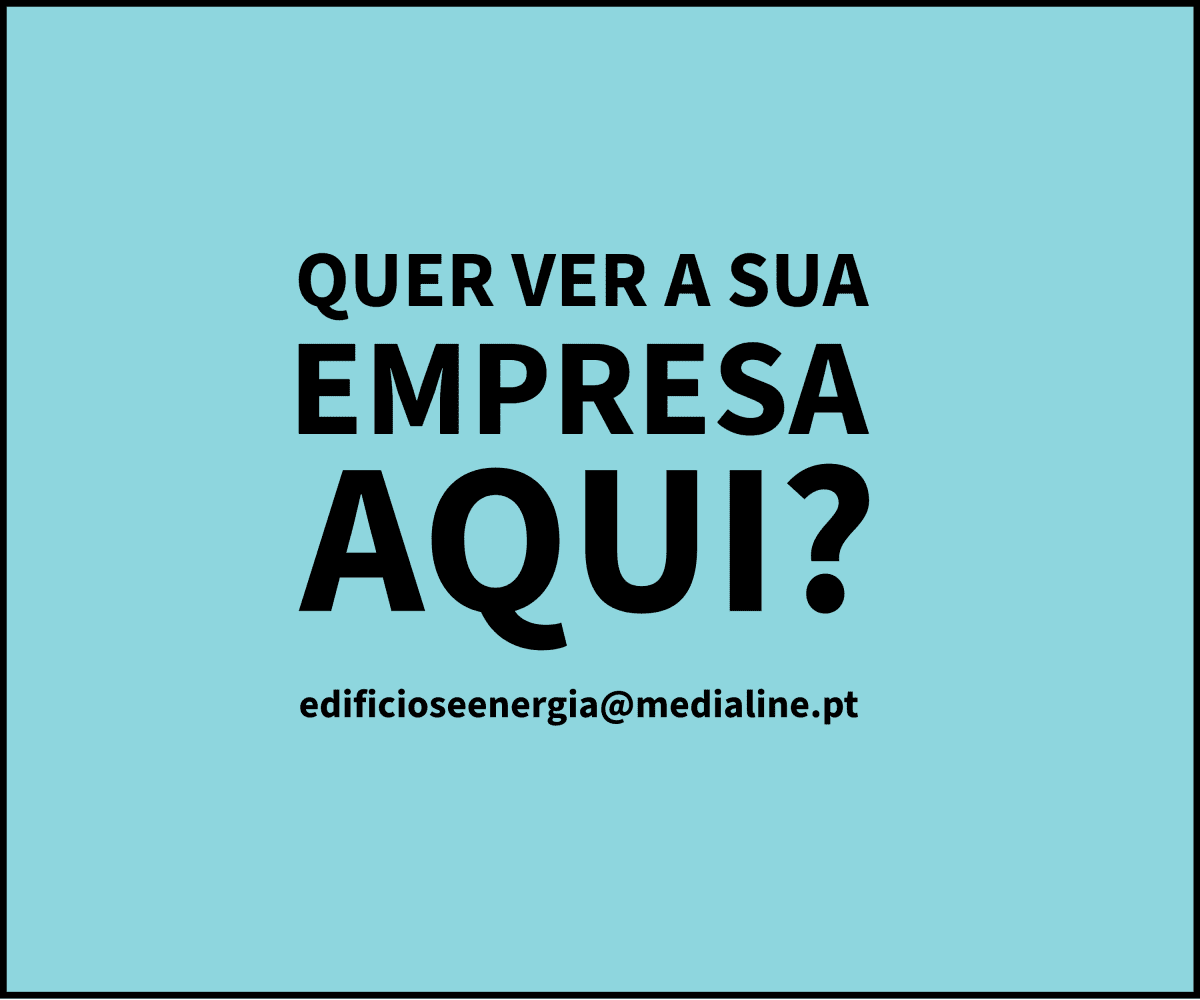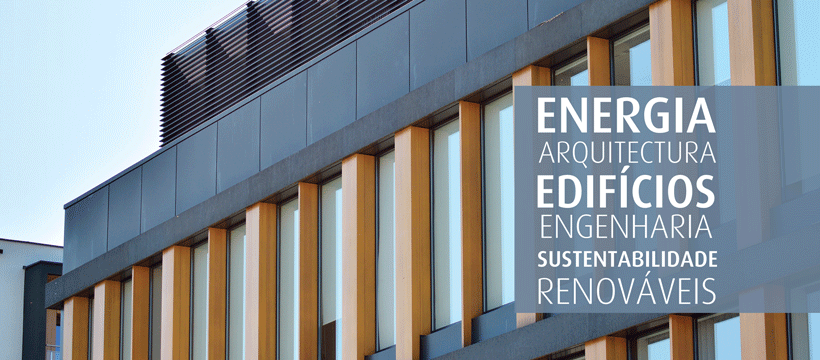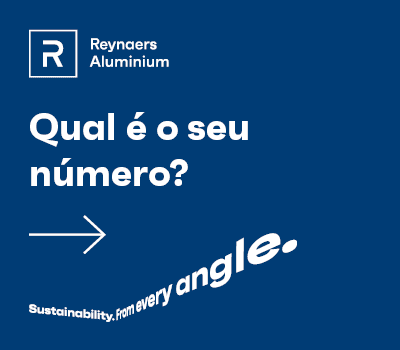Este artigo foi originalmente publicado na edição nº 160 da Edifícios e Energia (Julho/Agosto 2025).
Depois do apagão das cegonhas – um apagão português e que não foi total, há já muitos anos -, tivemos, em abril deste ano, o apagão ibérico, quase total, do solar. O primeiro foi atribuído a um acidente natural e há quem diga que a cegonha foi mais vítima do que causa do apagão. Como pôde uma cegonha entrar em contacto simultaneamente com dois cabos de alta tensão e provocar um curto-circuito? As cegonhas têm asas compridas, mas não tanto. E um bom engenheiro devia ter desenhado a rede de forma a que nenhuma cegonha pudesse provocar um tal acidente, espaçando adequadamente os cabos da rede de alta tensão. Por outro lado, este apagão mais recente, cujas causas ainda não se conhecem oficialmente, tem sido considerado, por quem sabe, uma consequência indesejável da transição energética, ou mais precisamente, da velocidade a que a transição energética está a ser implementada.
Queria começar por dizer que não sou de forma alguma especialista na “rede elétrica” e que tudo o que aqui digo sobre o apagão é o que pude concluir de tudo o que li e ouvi na comunicação social, sobretudo através das fontes e protagonistas mais credíveis e que se enquadram melhor com os conhecimentos generalistas que fui adquirindo, ao longo dos anos, sobre o sistema elétrico e as políticas energéticas nacionais. Se os resultados do inquérito oficial, que se dizem demorados, apontarem para outras causas, poderei ter de rever as minhas conclusões. Mas creio que o essencial desta reflexão não vai ser beliscado.
Quais parecem ter sido então as causas genéricas do apagão? Demasiada energia solar variável na rede (dizem que cerca de 70% do total da produção na altura da falha) e, portanto, falta de INÉRCIA que garantisse uma estabilidade da tensão e da frequência da rede em resposta a uma variação momentânea, mesmo que de (muito) pequena duração. E que as poucas centrais com inércia (por exemplo, as centrais nucleares espanholas) se tinham desligado num mecanismo de autoproteção programado, que funcionou bem – e ainda bem que assim foi, mas que comprometeu ainda mais a estabilidade da rede, que acabou por “cair”!
Mas, acrescento eu, há outra razão subjacente. O CUSTO! Para não dizer a Ganância. Se era sabido que uma rede estável exigia inércia, e que não havia inércia suficiente para “aguentar” 70% de renováveis variáveis em simultâneo na rede, é preciso perguntar como se permitiu que fosse possível acontecer quer a nível ibérico, quer a nível nacional, pois a falta de inércia também ocorreu em Portugal. O nosso País estava a importar mais do que precisava e sabia que se falhasse a ligação a Espanha, a inércia da rede nacional não seria capaz de compensar e manter-se operacional, mesmo que ocorresse algum apagão localizado de curta duração. E porquê? Em ambos os casos, porque a energia solar é muito barata – chega a ter preço negativo nas horas de ponta solar em dias com muito sol, sobretudo em Espanha, e, portanto, todos ganhavam. Era mais barato importar que produzir em Portugal, que dispunha de capacidade suficiente para satisfazer totalmente a procura do país.
Apesar de, aparentemente, nada ligar o apagão às políticas para os edifícios, as semelhanças (ou os contrastes) e as lições a tirar são baseadas precisamente nas mesmas três palavras-chave apontadas como causas para o apagão: a INÉRCIA, o CUSTO e a (falta de) SEGURANÇA DO ABASTECIMENTO.
Claro que não estou contra poupar custos e ter eletricidade mais barata. É bom para todos e para a Economia nacional. Mas comprar barato, por vezes, sai muito caro. Temos de comprar o mais barato que satisfaça condições mínimas de segurança ou, noutros casos, que garanta a qualidade do sistema que queremos ter – porque não se compra sempre o carro ou o eletrodoméstico mais barato no mercado? Um automóvel de 10 000 € também nos pode levar ao destino à semelhança dos que custam 300 000 €. As condições de conforto, de velocidade e de segurança é que podem ser diferentes.
Portanto, a lição a tirar é que a questão da SEGURANÇA DO ABASTECIMENTO foi esquecida pelos gestores da(s) rede(s) nacionais e ibérica na sua procura pela redução do custo da eletricidade. E o mais barato saiu mesmo muito caro. No último relatório da REN (Rede Elétrica Nacional), o plano de investimentos para a rede apontava precisamente para os riscos associados à falta de inércia e anunciava a necessidade de uma série de investimentos para resolver esse aspeto técnico nos próximos anos.
O problema e as soluções eram bem conhecidas, mas a questão dos custos prevaleceu, primeiro no adiamento, ou atraso nos investimentos a fazer pela REN, e depois, na mira do lucro fácil com a procura de fontes instantâneas mais baratas (solar fotovoltaico) e com a convicção de que tudo funcionaria bem apesar das debilidades que se sabia existirem. E que, provavelmente, a probabilidade de acontecer um apagão era pequena – não foi certamente a primeira vez que essas condições de grande utilização de renováveis existiram na rede elétrica e, imagino, vamos ter esse modo de operação com frequência no futuro, mesmo antes de termos a tal inércia necessária assegurada e bem assegurada.
Durante umas semanas foram impostas condições de funcionamento mais seguras em Portugal com o objetivo da redução das importações de Espanha, mas depois, rapidamente, voltámos ao “business as usual”, se bem que, espero, com um pouco mais de cuidado e bom senso para que não voltemos a ter outro apagão idêntico nos tempos mais próximos.
E QUE LIÇÕES PODEMOS ENTÃO TIRAR DAQUI PARA A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS?
Apesar de, aparentemente, nada ligar o apagão às políticas para os edifícios, as semelhanças (ou os contrastes) e as lições a tirar são baseadas precisamente nas mesmas três palavras-chave apontadas como causas para o apagão: a INÉRCIA, o CUSTO e a (falta de) SEGURANÇA DO ABASTECIMENTO. Se não, vejamos.
Ao contrário da falta de inércia na rede elétrica, o Setor dos Edifícios tem uma enorme INÉRCIA . Diria mesmo, uma enorme resistência à mudança! As mudanças são de uma lentidão reconhecida por todos. Em Portugal, temos mais de 5 milhões de edifícios e a taxa de renovação e construção nova, tal como na maioria dos países europeus, é inferior a 2%/ano. Renovar o parque construído a esta velocidade demora mais de 50 anos. Tentar renovar 100% do parque construído em 20 anos, até 2050, é uma utopia. Alterar as práticas da indústria da construção é um desafio tremendo, quer em termos da qualificação da massa laboral, quer pelas várias dificuldades das empresas de construção, maioritariamente de pequena dimensão que caraterizam o setor em Portugal.
Ninguém quer mudar, seja por inércia, seja por falta de poder financeiro (já falaremos depois sobre os custos). Não é uma prioridade para a população portuguesa, como para o resto da Europa e o resto do mundo. Não é talvez, atrevo-me a dizê-lo, uma prioridade para os nossos responsáveis políticos, que, em cada passo que dão, quer na negociação das Diretivas Europeias, quer na sua transposição para Portugal procuram sempre escapatórias nos textos legais (os tais “loop-holes”).
Publica-se legislação e tomam-se iniciativas (esquemas de incentivos, por exemplo) que parecem querer promover a mudança, mas que permitem o arrastar da solução pelo seu impacto insignificante, meramente simbólico, para “Comissão Europeia” ver. No último esquema nacional de incentivos, já terminado, dominaram as instalações de painéis fotovoltaicos e de ar-condicionado, em vez de obras de melhoria da envolvente – apoio ao isolamento, janelas e a outros métodos passivos eram possíveis, mas que tiveram muito poucos interessados. Aspetos que deveriam ter sido o grande objetivo para uma verdadeira redução das necessidades para aquecimento e arrefecimento dos edifícios. Só vai haver mudança no setor dos Edifícios se conseguirmos vencer a inércia e promover, em primeiro lugar, a eficiência energética das envolventes e, depois, satisfazer as necessidades reduzidas com renováveis (tal como a definição de NZEB indica). Em Portugal, a estratégia passou por apoiar precisamente o contrário.
INÉRCIA
Este conceito é muito amplo e tem vários significados possíveis. Neste artigo, a Inércia está ligada à alteração da velocidade de um equipamento ou sistema. Por exemplo, parar um superpetroleiro em alto mar, ou um comboio a alta velocidade, exige distâncias significativas, pois ambos têm muita massa (e “quantidade de movimento”) e, portanto, vão reduzindo velocidade muito lentamente quando se aplicam “travões”. Assim:
• na rede elétrica, a inércia está associada a equipamentos de massa elevada que rodam a uma velocidade bem determinada e que não sofrem alterações significativas (mantendo a frequência) quando sujeitos a perturbações de curta duração.
• no Setor dos Edifícios, a inércia está associada à velocidade de alteração da eficiência energética média de um setor composto por milhões de edifícios e em que, para ser visível uma mudança significativa, seria necessário ter um número de edifícios muito grande a melhorar o seu desempenho energético ao mesmo tempo.
Em resumo, enquanto a falta de inércia da rede elétrica favorece o aparecimento de um apagão, o excesso de inércia no setor dos edifícios impede que este evolua a uma velocidade visível. Parece tudo parado. Não está parado, mas temos aqui mais uma situação de velocidade de caracol, quase parado e uma inércia quase infinita.
A questão do CUSTO é comum aos edifícios e ao apagão. Enquanto os investimentos para aumentar a inércia da rede foram sendo adiados – e parece terem sido ultrapassados os limites de segurança na introdução de renováveis variáveis numa rede sem inércia suficiente para reduzir o custo da eletricidade, a renovação dos edifícios continua a ser também adiada pois tem custos enormes, tendo-se transformado mesmo num pesadelo para quem já se apercebeu sobre o que se pretende atingir nas atuais políticas públicas europeias. Os governos dos Estados-Membros já compreenderam este sentimento geral e já reduziram a velocidade de implementação desta componente da transição energética quando modificaram, de forma drástica, a proposta inicial da Comissão Europeia para a nova EPBD aprovada em 2024. Meteram os travões a fundo, embora sem os bloquear para evitar desastres. O enorme custo associado à descarbonização do setor dos Edifícios é muito maior, proporcionalmente, do que o exigido para dar a inércia suficiente à rede elétrica.
Nos edifícios novos, os padrões exigidos (NZEB, que estão ainda muito longe de ZEB – a verdadeira descarbonização) não podem deixar de causar algumas preocupações quanto aos custos associados. Mais uma vez, os NZEB portugueses deviam apostar mais em envolventes mais eficientes e menos na forma como se satisfazem as suas (ainda grandes) necessidades (a definição nacional de NZEB é muito pouco ambiciosa). Claro que se deve dar prioridade às renováveis, mas há que compreender que isso aumenta o custo dos edifícios novos e das grandes renovações. No atual contexto de falta de habitação a preços acessíveis (o custo da habitação continua a aumentar a taxa maior do que a inflação), que se tornou num enorme problema político e numa angústia para uma grande parte da população, as contradições políticas são reclamadas por todos os setores. É que os edifícios NZEB aumentam o custo da construção e aumentam o problema da crise da habitação.
Já começaram a aparecer apelos para se deixar de cumprir o nível NZEB, de forma a atacar o problema da falta de habitação a custos controlados.
Num artigo de 22 de maio no Jornal de Negócios, o Bastonário da Ordem dos Engenheiros defende uma diminuição das exigências: afirmava que as “Casas do PRR têm de diminuir as exigências da construção. A imposição de requisitos de sustentabilidade está a deixar muito cara a construção pública de habitação. Uma coisa é combater a pobreza energética, outra coisa é o luxo energético”. Claro que o Estado não pode construir edifícios que não cumpram a EPBD e a regulamentação nacional correspondente com fundos europeus (PRR), pois a Comissão Europeia não aceitaria esses custos em violação da EPBD. Mas em tempo de guerra não se limpam armas e o Bastonário não deixa de apontar um problema real sobre o custo da construção e sobre as prioridades das políticas públicas. Qual será o melhor compromisso?
PORTANTO, OS CUSTOS SÃO CRÍTICOS, TANTO PARA EVITAR APAGÕES, COMO PARA DESCARBONIZAR OS EDIFÍCIOS!
E finalmente, a questão da SEGURANÇA DO ABASTECIMENTO. Sempre ouvi dizer que é perigoso colocar todos os ovos no mesmo cesto. E agora, aposta-se tudo na eletrificação, remetendo os combustíveis gasosos para o lixo. Bom, a rede elétrica já estabeleceu que tem de ter, pelo menos nas próximas duas décadas, centrais de produção a gás natural operacionais. Acabou o carvão por cá, e muito bem pois é muito mais poluidor.
E, já agora, até as comunidades de energia não funcionaram e demonstraram não serem uma grande solução para autonomia energética, com a honrosa exceção da comunidade na Universidade de Coimbra, onde certamente a questão dos custos foi ultrapassada pelos desejos de investigação e de inovação, e onde foi mantido o fornecimento de eletricidade localmente durante o apagão.
À exceção da Alemanha, da Polónia, da China, da Índia, dos EUA, em África e em muitos outros países, uma “pequena” parte do mundo ainda aposta no carvão. Nesses países, as razões podem ser económicas ou a inexistência de alternativas, mas, em Portugal, sem centrais a gás natural, teríamos muitos mais apagões. Temos gás natural por uma questão de segurança do abastecimento e estabilidade (e inércia) da rede. E nos edifícios? Aqui, a aposta regulamentar é a de favorecer a eletrificação total e acabar com o recurso ao gás. Um edifício novo só com muita dificuldade pode ter gás natural e cumprir os requisitos regulamentares.
A instalação de gás nos novos edifícios já nem se faz. Todos os edifícios estão obrigados a eletrificar e a usarem bombas de calor para a climatização. Não seria muito mais prudente aceitar, como sabemos que vai acontecer, que a rede de gás tem de continuar a funcionar e a abastecer edifícios (e a indústria) nas próximas duas décadas? E caminhar no sentido de descarbonizar o gás, aumentando gradualmente a percentagem de biometano e de hidrogénio, à medida que estas duas alternativas se vão tornando mais disponíveis e competitivas?
Acresce que as políticas públicas não são confiáveis. Quando se apostou na eletrificação, as bombas de calor passaram para o IVA reduzido. Agora, no final de junho de 2025, regressam ao IVA normal de 23%. Fatores e decisões que contribuem para um maior aumento do CUSTO da habitação e que não resolvem o problema da segurança do abastecimento. Durante o apagão, quem tinha gás pôde fazer o almoço ou o jantar, os 100% elétricos tiveram de comer enlatados (se os tinham, pois houve uma corrida aos supermercados e esgotaram, como sabemos).
E, já agora, até as comunidades de energia não funcionaram e demonstraram não serem uma grande solução para autonomia energética, com a honrosa exceção da comunidade na Universidade de Coimbra, onde certamente a questão dos custos foi ultrapassada pelos desejos de investigação e de inovação, e onde foi mantido o fornecimento de eletricidade localmente durante o apagão. Não foram reportadas outras situações semelhantes. Grande autonomia. As Comunidades de Energia, que são tão difíceis de concretizar, são mesmo apenas um meio de poupar custos? Nesse sentido são pouco úteis e não são a solução para a questão global, como já defendi noutros artigos de opinião. Não asseguram a independência de funcionamento em caso de apagão e não garantem segurança de abastecimento.
CONCLUSÃO
A descarbonização é uma meta notável e com a qual todos devemos estar comprometidos. Como muitas outras políticas e objetivos nobres, a descarbonização (ou a transição energética) enfrenta obstáculos importantes, que têm de ser ultrapassados de forma lógica, pragmática e aceitável sem que se tornem pesadelos para a população.
No apagão, tal como nos edifícios, identificam-se três palavras-chave com impacto na transição energética: a inércia, o custo e a segurança. Todos estes princípios foram violados, de uma ou outra forma, com maior ou menor impacto, quer na velocidade da implementação, quer na rede elétrica, quer nos edifícios.
Uma velocidade desenquadrada da realidade pode levar a um cenário em que, em 2050, teremos a Europa como uma ilha renovável no meio de um resto do mundo que continua a usar combustíveis fósseis sem limite e, portanto, sem qualquer impacto nas alterações climáticas no Planeta – a Europa já é um pequeno emissor de gases com efeito de estufa a nível mundial.
Talvez seja agora o tempo certo para fazer uma reflexão sobre as metas e a velocidade de implementação da descarbonização e da transição energética, e sobre as lições aprendidas durante este quarto de século na sua implementação. As políticas iniciadas no começo deste século XXI merecem agora uma revisão crítica e precisam de um ajuste às novas realidades, 25 anos depois.
Fotografia de destaque: © Unsplash
As conclusões expressas são da responsabilidade dos autores.