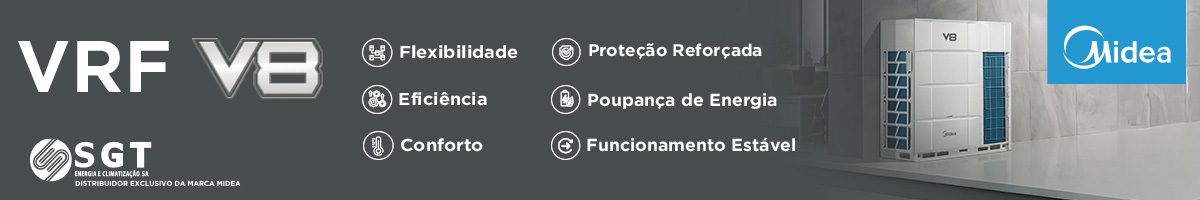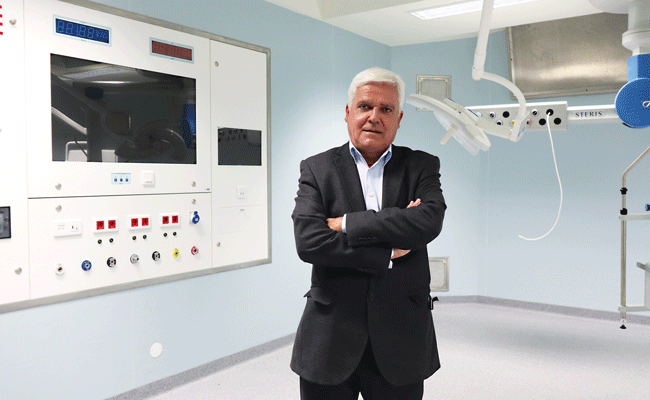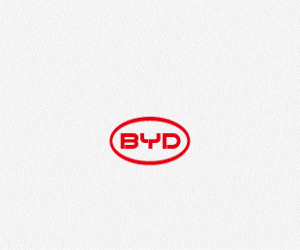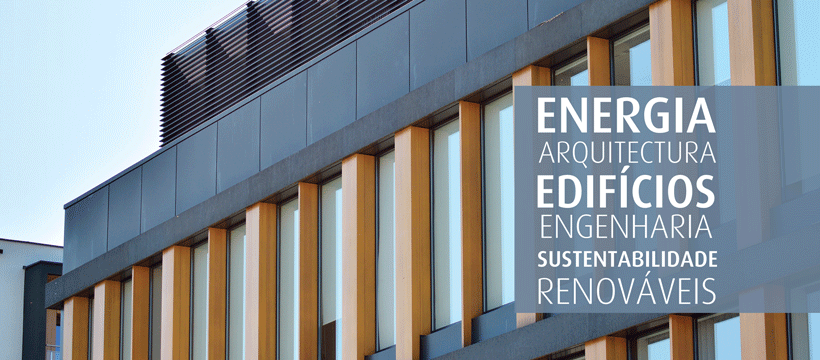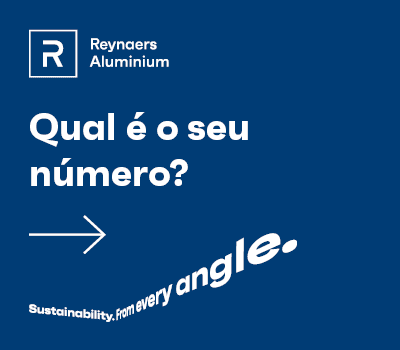Filipe da Silva, director dos serviços de instalações e equipamentos do IPO – Instituto Português de Oncologia, onde está há 36 anos, é actualmente presidente da Associação Portuguesa de Engineering Hospitalar (APEH), que tem como objectivo promover “o desenvolvimento científico e a aplicação de tecnologias e inovações específicas da engenharia hospitalar”. Numa conversa sobre a capacidade das nossas unidades de saúde, ficámos a conhecer as necessidades mais imediatas e os principais desafios para as instalações hospitalares.
O que mudou, de há um ano para cá, no IPO?
Mudou muita coisa, mas sobretudo os acessos das pessoas aos edifícios. Há um maior rigor quanto a horas de entrada, foram criadas salas de espera exteriores em tendas, apesar de o IPO ser um hospital não-Covid. Existe um espaço de testagem criado para os doentes suspeitos de Covid. Existem determinados exames que continuam a ser feitos a doentes infectados, quer sejam realizados em blocos operatórios, quer na unidade técnica de pneumologia ou mesmo alguns tratamentos de radioterapia. Nestes casos, são criadas condições especiais.
E o que mudou ao nível dos equipamentos e das instalações?
Não mudou nada de substancial porque não houve tempo, mas vamos ter de mudar muita coisa e num curto espaço de tempo. Estamos a estudar essas necessidades. No caso do IPO, e em muitos outros hospitais, existem poucas zonas de contenção, ou seja, os hospitais estão mais preparados para as zonas de protecção, nas quais a ventilação confere às salas uma pressão positiva (o ar entra nas salas e não vai contaminar os doentes que lá estão). O IPO tem apenas duas salas na unidade de cuidados intensivos em que é possível fazer a reversibilidade do sistema de ar condicionado, onde é possível alternar entre a pressão positiva e a pressão negativa em função do tipo de doente que lá esteja. Mas esta é uma situação esporádica porque a reversibilidade é uma solução complicada de implementar e exige um trabalho de desinfeccção da sala com muitos passos. Não podemos ter uma sala em pressão negativa num momento e, para o doente seguinte, em pouco espaço de tempo, passarmos para uma pressão positiva. Esta mudança leva muito tempo e as unidades não estão preparadas com filtros, na zona de extracção do ar, de forma a não haver contaminação do meio ambiente. Estes filtros têm de estar em caixas de alta segurança. Todas estas situações, no sentido de dar uma rápida resposta com segurança, ainda não existem.
Não houve tempo ainda?
Não houve tempo, mas não só. Repare o que se passa com a unidade de pneumologia. Nesta unidade, temos duas salas técnicas onde se fazem broncoscopias, mas apenas uma delas está preparada para determinado tipo de exames. Portanto, não existindo duas salas iguais, não é possível definir, à partida, que uma estaria em pressão negativa e outra em pressão positiva. Na sala onde se tratam doentes infectados, aquilo que estamos a fazer, embora não seja a melhor solução, é parar completamente a ventilação naquele momento. Quando fazemos uma broncoscopia a um doente infectado, o sistema de ar condicionado é interrompido completamente, quer a insuflação, quer a extracção, ficando o ar estacionário. Faz-se o exame ao doente, espera-se um tempo e, depois, a zona é desinfectada. Só mais tarde é reactivada a ventilação para o próximo doente não infectado.
Isso não cria um risco acrescido para a equipa médica?
Todos os técnicos que estão a fazer o exame estão completamente protegidos. O problema é a temperatura. Como não estamos a ventilar, também não estamos a climatizar e, para os técnicos, é difícil por causa do calor.
“A fiscalização sobre os hospitais privados é mais efectiva do que nos hospitais públicos no que diz respeito às obras. Os licenciamentos são mais apertados em termos de regras porque há muitas inspecções. No público, há inspecções, mas as auditorias são feitas no sentido de perceber se a regulamentação está a ser aplicada, embora as regras já sejam muitíssimo exigentes.”
Essa não é a situação ideal. Qual seria a situação ideal? Os outros hospitais já estão a ir noutros sentidos?
Provavelmente alguns hospitais já estão a ir noutros sentidos. Não é fácil criar-se a reversibilidade dos sistemas de um momento para o outro. Quando temos um doente infectado na sala, esta solução aponta para um caudal superior na extracção ao da insuflação. Criamos a tal pressão negativa dentro das salas de forma a não contaminar as salas e as pessoas que estão nas zonas contíguas. Há várias hipóteses de fazer a reversibilidade. Através de variadores de velocidade, aumenta-se o caudal da insuflação e/ou diminui-se o caudal de extracção, de maneira a que a sala volte a ser uma sala de pressão positiva onde o doente é protegido do exterior. A desinfecção das salas pode ser feita de três formas distintas, nomeadamente por osmose, ultravioletas ou ainda com peróxido de hidrogénio.
O que está a acontecer nos outros hospitais?
Alguns hospitais já têm zonas de contenção, portanto, já têm zonas preparadas. Aliás, qualquer hospital com alas de infectocontagiosos já está preparado e tem pressões negativas, filtros absolutos na extracção, etc. Para as salas de operação, já não funciona assim porque estas salas normalmente estão preparadas para a protecção do doente e não da equipa. São as chamadas salas de protecção e não de contenção. São dois tipos de isolamento distintos.

A pandemia de Covid-19 ampliou estas necessidades que já existiam?
Sem dúvida de que já existiam e destaco quatro aspectos principais que devem ser alterados nos hospitais. Desde logo, a arquitectura, porque o afastamento das pessoas vai trazer mudanças em várias zonas. Na parte dos sistemas de AVAC, terá de haver um cuidado maior e vamos ter de ventilar mais. Para o oxigénio, que é uma área muito importante, as tubagens actuais não são suficientes de forma a conseguirmos colocar dez doentes a consumir os níveis de oxigénio por minuto que hoje são apontados. Há um colapso na instalação se não fizermos as devidas alterações, como já se verificou no Hospital Amadora-Sintra. Nas zonas de contenção a criar, precisamos de tubagens com secções bastante superiores. Não há hospital nenhum que esteja preparado com os sistemas necessários para que dezenas de doentes possam receber 60 litros de oxigénio por minuto. E, em quarto lugar, vamos precisar de criar mais salas de isolamento.
Até agora, temos dado prioridade às zonas críticas e temos instalações onde as pessoas circulam em zonas totalmente desprotegidas em termos de qualidade do ar interior (QAI). Isso vai mudar?
Se falarmos em hospitais mais antigos, essa realidade existe, mas, nos mais novos, não tanto. E mesmo os mais antigos já estão a requalificar os espaços tendo isso em conta. No IPO, readaptámos as salas de espera e todas têm renovação do ar, ventilação… Isso está a ser ultrapassado desde há algum tempo. Em termos de ventilação, se o espaço for mais amplo para os doentes estarem afastados, aquilo que é preciso mudar é residual. Continuamos a ter de cumprir os 30 metros cúbicos/hora de ar novo por pessoa para cada espaço. O que se deve fazer é criar estas condições noutros espaços onde não haja ventilação. Há muitos espaços hospitalares onde se faz apenas a recirculação do ar por unidades tipo splits que arrefecem ou aquecem o ar ambiente.
Que outros espaços precisam de intervenção?
Os gabinetes médicos de consulta, as zonas técnicas mais específicas, para além das zonas da pneumologia ou as unidades de gastroenterologia, onde se fazem as endoscopias, por exemplo. Neste momento, o IPO está a dotar todas estas salas onde existem técnicas invasivas com ventilação. Vamos ter renovação mecânica do ar, tratamento de ar e filtragem absoluta do ar nesses espaços.
A legislação actual sobre a QAI é suficiente?
A legislação actual não obriga a que os espaços antigos se readaptem, mas, no que diz respeito aos espaços a construir e remodelar, a legislação que existe é suficiente. Às vezes, poderá ser considerada demasiado optimista porque tende a esquecer outras questões. Já temos a experiência do excesso de ambição da Parque Escolar e, por vezes, corre-se o risco de ultrapassar a realidade do país.
Nos hospitais, devemos ter a mesma cautela?
Sim, mas já existe legislação abrangente. Já fazemos análises regulares à QAI em vários espaços de maior risco, como os blocos operatórios, unidades de transplantes, unidades de queimados, etc. Tudo isso já existe.
Existem planos preventivos com a regularidade definida?
No caso do IPO, existem com periodicidades definidas.
Quem são os técnicos que fazem esse trabalho?
São várias empresas do sector certificadas para essa actividade.
E a manutenção das instalações também é feita por outsourcing?
Sim e, neste momento, temos um concurso na rua porque terminámos o contrato em finais de Abril. Todos estes processos são apoiados pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). É definido um caderno de encargos com especificações e periodicidades muito concretas, os relatórios que se devem produzir, as análises que se devem realizar, e as empresas concorrem. As necessidades vão evoluindo, nomeadamente no volume e qualidade ao nível da esterilização. No nosso caso, passámos de cinco para nove salas de bloco operatório completamente novas.
O IPO tem uma equipa de engenheiros residentes que vai acompanhando todos estes processos?
Temos uma equipa de engenheiros que vai cuidando da manutenção e das pequenas obras. Somos quatro engenheiros e um arquitecto. A parte da oficina já é residual. Para as obras de maior volume, fazemos contratação externa da fiscalização. Uma entidade independente que tem em mãos, neste momento, duas obras. Para além das salas dos blocos operatórios, temos em curso a produção centralizada de água arrefecida e de água aquecida, um projecto que concorremos via PO SEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos). Ou seja, tínhamos cerca 60 unidades produtoras de água arrefecida e de água aquecida para aquecimento e arrefecimento espalhadas pelas nossas instalações. E, neste momento, estamos a trabalhar com cinco chillers (bomba de calor) que estão a ser instalados com dry coolers com recuperadores de calor, de forma a podermos poupar energia e cumprir as metas que nos são apontadas. Vamos também instalar painéis fotovoltaicos com o apoio da fiscalização externa.
Há capacidade financeira nos hospitais do Estado para responder a todas estas necessidades? Tem havido maior investimento?
Até agora, estamos a realizar todas as obras que definimos. Temos na rua um concurso para renovação completa de um laboratório com um orçamento de quase dois milhões de euros.
“Não é fácil caminhar no sentido da redução dos custos energéticos. Muitas vezes, não conseguimos. Agora, os hospitais têm metas. Somos obrigados a ter certificados energéticos e temos a obrigação de baixar ou melhorar essa classe.”
Não tem saudades da DGIES (Direcção Geral de Equipamentos e Instalações de Saúde), no sentido de dar algum conforto na forma como eram feitos os investimentos e os trabalhos?
No que se refere ao apoio, sim, mas, para nós, em particular, não tanto, porque o IPO, como foi um hospital escola, pertenceu durante muitos anos ao Ministério da Educação e quem nos dava apoio na altura era a Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Quando passámos para o Ministério da Saúde, apoiámo-nos bastante na Direcção Regional de Instalações e Equipamentos, mas continuamos a ser muito autónomos.
Como presidente da APEH, o que sente em relação aos outros hospitais do Estado? Essa autonomia que hoje existe é positiva?
É verdade que há hospitais com estratégias diferentes. Antes, quando existia a necessidade de uma remodelação, era o DGIES que desenvolvia os projectos, que acompanhava as obras, etc. Hoje, são os próprios hospitais com os seus recursos que o fazem através de empresas exteriores.

E essa é uma boa estratégia?
A autonomia é uma coisa positiva. Claro que precisamos todos de mais técnicos. Quando cheguei ao IPO, éramos dois engenheiros e mais de 60 operários. Hoje, somos cerca de 20 pessoas no total. Diminuímos o número de operários e aumentámos o número de valências na engenharia.
A qualidade não se perde com a rotatividade das empresas e dos técnicos exteriores?
Por um lado, sim, e seria mais fácil termos as respostas dentro de casa, mas, em termos tecnológicos, a evolução tem sido tão grande que, se olharmos para a especificidade dos equipamentos, as oficinas já não conseguem responder em termos técnicos. Como exemplo, hoje, uma das coisas fundamentais é a calibração. E temos de recorrer a firmas com know-how nos casos que exigem procedimentos específicos.
Não tendo equipas residentes, não se corre o risco de fazer manutenção correctiva em vez de preventiva na generalidade dos hospitais públicos?
Em algumas situações, sim, corremos esse risco, mas não em relação aos equipamentos médicos. Os elementos mais estruturais, como as redes de água, redes de esgotos e outras, são as áreas onde sentimos mais dificuldade.
Como caracteriza este último ano em termos de gestão hospitalar?
Foi um ano caótico. Fomos obrigados a fazer novas coisas e novas tarefas. Todo o pessoal, médico ou não, teve um aumento de trabalho muito significativo e tem sido complicado. Todos os hospitais tiveram de construir à pressa vários espaços alternativos para acomodar doentes e serviços.
Há uma maior consciência por parte dos decisores de que os sistemas de AVAC são um aliado para a QAI e que, por isso, terá de existir um maior investimento nesta área?
Só com os sistemas de AVAC é que atacamos a qualidade do ambiente interior. Abrir janelas não é o suficiente. E, sim, há essa consciência e há mais sensibilidade. Hoje, as pessoas são muito mais exigentes no que diz respeito ao tratamento do ar.
E do lado da tecnologia dos sistemas de AVAC, temos tudo o de que precisamos?
Temos, sem qualquer dúvida, quer em termos energéticos, quer em termos de capacidade e de gestão dos sistemas pela monitorização e controlo. Hoje, conseguimos gerir facilmente uma grande instalação à distância.
Aquilo de que vamos precisar a mais nos hospitais em termos de sistemas de AVAC vai carregar a factura energética ao final do mês. Um problema?
Pode ser um problema e os sistemas mais antigos têm eficiências muito mais baixas. Hoje recorre-se a recuperadores de calor, ou seja, não desperdiçamos energia. Quando estamos a produzir calor para as instalações, durante o inverno, libertamos frio que vai ser utilizado para arrefecer a água. Usa-se o mesmo sistema e não há desperdício de energia. O ar quente que é libertado serve para aquecer as águas. Nesse aspecto, a eficiência e a recuperação de energia são factores que têm evoluído muito.
Há uma necessidade geral de substituição dos equipamentos ao nível hospitalar?
Em muitos hospitais, sim, sobretudo nos que estão em zonas menos centrais. Claro que em Lisboa temos alguns mais antigos onde isso também é uma realidade, como o Hospital dos Capuchos, o Santa Maria, o São José ou o Garcia de Orta. Aí são necessárias intervenções muito grandes. Mas, nos últimos anos, têm sido feitas algumas. O Hospital de Santa Maria tem trabalhado bastante bem.
E, no privado, estas questão não se colocam?
Talvez não da mesma forma, porque a maioria das instalações é mais recente e já teve de cumprir as regras de outra forma. E a fiscalização sobre os hospitais privados é mais efectiva do que nos hospitais públicos no que diz respeito às obras. Os licenciamentos são mais apertados em termos de regras porque há muitas inspecções. No público, há inspecções, mas as auditorias são feitas no sentido de perceber se a regulamentação está a ser aplicada, embora as regras já sejam muitíssimo exigentes.
Podemos dizer que, daqui para a frente, vamos ter uma nova realidade em termos de instalações e regras hospitalares?
Sim e que começa por um esforço do lado da arquitectura na redefinição dos espaços. No que diz respeito ao ar condicionado, ao oxigénio e à criação de mais zonas de contenção, aí não há qualquer dúvida.
As análises à QAI que se fazem são suficientes? Que outras medidas podem ser tomadas?
A primeira coisa que é essencial e uma das orientações da Direcção Geral da Saúde é uma boa prática do lado da manutenção. É essencial que os sistemas de AVAC sejam mantidos e não estamos só a falar de substituição ou de limpeza de filtros, mas da limpeza e manutenção generalizada aos sistemas. As unidades têm de ter intervenções diferentes, como é o caso dos blocos operatórios. As UTA´s já têm de ser as chamadas UTA’s higiénicas com materiais que sejam mais limpos e não libertem poeiras. É preciso ter em consideração as obrigações quanto aos filtros HEPA.
Para assegurar a QAI, precisamos de mais engenharia e mais dinheiro?
Precisamos de mais engenharia e mais investimento.
Está confiante de que esse passo será dado?
Estou confiante porque não há outra alternativa. Hoje, não passa pela cabeça de nenhum técnico que esteja ligado à engenharia hospitalar que o sistema de AVAC não seja uma das grandes prioridades e um dos grandes investimentos em qualquer instalação. Numa obra, 50 % a 60 % dos custos são alocados aos sistemas de AVAC. Os custos com estes sistemas ultrapassam os custos com a construção civil ou com a electricidade, no caso dos hospitais.
Isso é recente?
Desde há, pelo menos, uns 14 anos.
Temos bons projectos na área hospitalar?
Tem dias. Acontece muitas vezes termos de alterar os projectos. O Código dos Contratos Públicos é muito mais restritivo e, portanto, os projectos não podem falhar.
E são mais contidos do ponto de vista orçamental?
Têm de ser mais rigorosos. Antes, uma falha no projecto dava origem a um erro ou omissão e fazia-se um trabalho extra que encaixava num orçamento que podia ir até 40 % do valor da obra. Hoje, essa flexibilidade passou para 10 %. Nada pode falhar.
A equipa de projecto fica a acompanhar o processo em obra?
As equipas de projecto vão acompanhando o trabalho, e 10 % do valor do projecto só é pago no final da obra precisamente para garantir esse acompanhamento e alguma rectificação necessária.
E os planos de manutenção preventiva são elaborados por quem?
As especificações técnicas para a manutenção preventiva são feitas pelos técnicos da casa ou então recorremos aos SPMS.
A questão da eficiência energética e as preocupações quanto aos consumos e factura energética estão agora em segundo plano quando olhamos devidamente para a QAI?
Em alguns aspectos, sim, mas, por outro lado, temos evoluído muito em termos de equipamentos e eficiência. De facto, as exigências em relação às QAI são muito grandes. Não é fácil caminhar no sentido da redução dos custos energéticos. Muitas vezes, não conseguimos. Agora, os hospitais têm metas. Somos obrigados a ter certificados energéticos e temos a obrigação de baixar ou melhorar essa classe.
Não se conhecem certificados energéticos para os edifícios do Estado, embora sejam obrigatórios. A certificação dos hospitais é uma realidade?
É verdade, mas os hospitais públicos são certificados energeticamente. São obrigados e cumprem.
Qual a classificação do IPO?
Estamos na Classe D de eficiência.
É um desafio continuar a caminhar para a eficiência energética a par do aumento das necessidades que existem hoje para as instalações?
No IPO, estamos bem lançados nesse caminho. Anteriormente fazíamos produção de água aquecida através da permuta térmica de vapor e água. Havia uma rede muito extensa e muitas perdas de energia. Acabámos com o vapor há pouco mais de um ano e passámos a produzir água aquecida de uma forma mais eficiente. Fizemos um investimento grande na substituição de toda a iluminação para LEDs. Vamos instalar painéis fotovoltaicos para a energia eléctrica e implementar outras mudanças para continuarmos a caminhar no sentido da eficiência.
Este artigo foi originalmente publicado na edição nº 135 da Edifícios e Energia (Maio/Junho 2021).