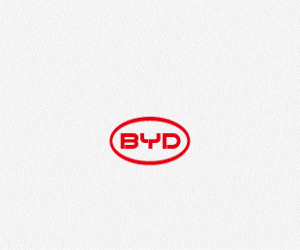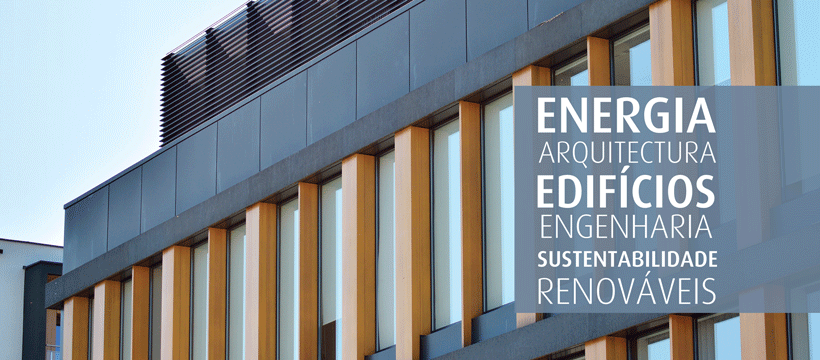Manuel Gameiro da Silva foi um dos cientistas que assinou uma carta aberta dirigida à Organização Mundial de Saúde (OMS). Nesta missiva, era reforçada a evidência de que a transmissão da infecção viral também se faz por aerossóis. Para este professor catedrático da Universidade de Coimbra, devemos ventilar e diluir a concentração do ar para aumentar a probabilidade de esta concentração ficar abaixo do limiar da infecciosidade. “Aquilo que precisamos é de um determinado caudal de ar novo por pessoa”.
Houve uma mudança nas orientações da Direcção-Geral da Saúde (DGS) no passado mês de Julho. Os aerossóis começaram a ser considerados. Uma boa notícia?

A DGS, seguindo aquilo que dizia a OMS, estava convencida de que só havia a possibilidade de transmissão da infecção viral através do contacto ou por gotas. No final de Março, eu já estava a colocar a hipótese, até pela forma explosiva que se tem verificado na transmissão, de haver uma participação de aerossóis.
Explosiva do ponto de vista da rapidez da transmissão?
E também da expansão. A contaminação é muito mais forte e rápida. A progressão do aumento de casos é muito maior do que no caso de outros vírus. Depois do primeiro caso, os números dispararam a uma velocidade enorme em todo o mundo. O facto de não fazermos voos directos para o oriente ajudou a que esta pandemia se atrasasse cá em Portugal. Houve vários especialistas que procuraram perceber o que havia de diferente. Recorde-se a carta enviada por vários cientistas americanos ao New England Journal of Medicine relativamente aos resultados sobre a persistência do vírus. Na realidade, tratou-se de um estudo comparativo entre o SARS-CoV-2 e o SARS-CoV-1. A primeira conclusão foi a de que a persistência seria a mesma. Ao fim de várias horas, o vírus estava activo nas superfícies ou nos aerossóis e os dados eram muito semelhantes. A principal diferença foi, depois, identificada num estudo do Instituto de Microbiologia de Bundeswehr, na Alemanha, na capacidade de multiplicação do SARS-CoV-2, que cria colónias mais numerosas no trato respiratório dos infectados. O resultado é que as partículas resultantes da respiração das pessoas vêm com uma carga viral maior. Isto acontece em todas as dimensões de partículas.
No entanto, quanto mais pequenas são as partículas, mais facilmente ficam em suspensão. Por sua vez, as gotas de maior dimensão são aquelas que carregam mais vírus e essas é que são responsáveis pelo contágio por contacto, porque caem a curta distância, tipicamente a um metro. Em relação aos aerossóis, se estes vierem com pouca carga viral, podem não se tornar infecciosos. A infeccção é como uma batalha que ocorre entre o sistema imunitário e os vírus que chegam ao destinatário.

A OMS já tem muito trabalho anterior feito nesta matéria.
A questão da OMS é complicada porque se esqueceu do conhecimento que já produziu. Houve, em tempos, um grupo de trabalho que estudou a questão dos aerossóis e que produziu informação sobre como proteger as instalações hospitalares, entre outras. Há, desde 2017, várias publicações da OMS sobre este tema.
O vírus que desencadeou esses estudos não é o mesmo. Este tem características muito diferentes?
Os dois são vírus estruturalmente semelhantes. São ambos coronavírus. Não havia razão para dizer que o SARS-CoV-1 podia ser transmitido por aerossóis e que, agora, este novo vírus, o SARS-CoV-2, não pode.
E porque será que a OMS ignorou esta possibilidade até agora?
Para mim, é um mistério. Quando fazemos a avaliação das probabilidades da carga viral do lado da emissão, é claro que as partículas maiores podem trazer muito mais carga viral. O problema é aquilo que acontece nas probabilidades do lado da recepção e de quem as inala. É muito mais fácil inalarmos partículas em suspensão no ar do que alguém à distância dita de segurança ou protegido com uma máscara conseguir infectar-nos directamente com uma gota que sai da sua boca.
No caso das partículas mais pequenas que podem estar em suspensão mais tempo e fazer trajectos maiores, há que considerar que a carga viral é mais reduzida.
Os infectados com este vírus emitem cargas virais muito mais elevadas do que aqueles que estavam infectados com o vírus anterior. A grande questão está em saber qual a carga viral que é necessária e durante quanto tempo, para termos a certeza de que as pessoas ficam infectadas. Eticamente não podemos fazer um estudo que tenha como objectivo directo obter esse resultado. Não podemos sujeitar pessoas a cargas virais crescentes para ver quando é que ficam infectadas. Não sabemos ainda e é a resposta que nos falta saber!
Aquilo que temos de fazer é tentar controlar a suspensão no ar dos aerossóis?
Nunca o conseguimos evitar. Metade das gotículas que exalamos tem a capacidade para criar aerossóis. Temos de diminuir a emissão usando máscara, o que ajuda também na diminuição da transmissão por gotas e por contacto. As partículas de maior dimensão deixam de sair com a máscara. Os aerossóis são aquilo que vemos no Inverno, a pequena nuvem do bafo quando respiramos.
Interessa-nos o fluxo do ar?
Aquilo que temos de fazer é diminuir também a concentração e, para isso, temos de fazer uma diluição do ar com a entrada de ar novo nos espaços fechados, por exemplo. Temos de ventilar e diluir a concentração para aumentar a probabilidade de esta concentração ficar abaixo do limiar da infecciosidade.
Isso faz-se apenas com ar novo?
Se eu apenas recircular o ar, o número de vírus que lá está vai manter-se o mesmo. Uma coisa é ventilar, outra coisa é condicionar o ar e é importante que isso seja esclarecido. Com o ar condicionado, aquilo que estamos a condicionar é tipicamente a temperatura e a humidade. Eu posso ter sistemas de ventilação onde não altero a temperatura, nem a humidade, e posso ter sistemas de ventilação em que, além de ventilar, altero a temperatura e a humidade. Um ar condicionado doméstico, aquilo a que chamamos “split”, não é um sistema de ventilação. Não ventila, só recircula o ar. Além de condicionar termicamente, faz andar o ar a uma velocidade maior, porque isso é necessário para aumentar a eficiência de troca de calor no permutador.
As pessoas não ligavam o ar condicionado nos últimos meses com medo…
Esse não é um problema. Pôr um split a trabalhar não altera em nada a carga viral de um espaço. Se, por um lado, não contribui para a diluição do ar, por outro, também não contribui para o aumento da carga viral. Os splits têm a sua função de alterar a temperatura e a humidade do espaço. Hoje, se tivermos calor, devemos e podemos utilizar o ar condicionado. Claro que não devemos ter uma circulação do ar com tudo fechado e sem qualquer renovação. Mesmo que não haja ar condicionado nas nossas salas, há sempre fluxo do ar. O ar não está parado. Se eu não tiver qualquer equipamento numa determinada divisão, há sempre correntes de ar e fluxo do ar de origem térmica. Há sempre uma parede mais quente do que outra e o ar sobe junto à parede quente e desce junto à parede fria. Só que, em vez de o fazer em minutos, o ar condicionado fá-lo em segundos. Mas as partículas andam em circulação.
Como podemos minimizar o contágio, por exemplo, num restaurante?
Dar preferência à ventilação natural é uma afirmação que requer cautela. Aquilo que precisamos é de um determinado caudal de ar novo por pessoa, de fornecer o ar novo em função do número de pessoas. Quando temos situações em que a taxa de ocupação por unidade de área e volume é relativamente elevada, pode acontecer que a ventilação natural não chegue. Até porque a ventilação natural depende de uma maior ou menor velocidade do vento e pode não chegar para garantir as necessidades de ar novo. Em restaurantes não muito grandes, a abertura das janelas pode chegar. O ideal era que se pudesse controlar a qualidade do ar fazendo medições da concentração de CO2. A qualidade do ar interior (QAI) será tanto melhor quanto menor for a concentração de CO2 no espaço. Se houver pouca renovação, o CO2 de origem metabólica vai acumulando e essa é uma indicação de que o espaço é pouco arejado.
“Se houvesse inspecções de QAI em que fosse verificado o cumprimento da legislação existente, muito provavelmente, os problemas com os lares de idosos não se teriam verificado com a magnitude que ocorreram”.
A REHVA desenvolveu uma espécie de calculadora do risco de infecção.
Há mais do que uma ferramenta em desenvolvimento. Há várias pessoas que o estão a fazer. Nesta fase, eu diria que é um calculador da dose de exposição, porque, enquanto não soubermos os valores do limiar da infecciosidade, não sabemos exactamente qual é o risco. No fundo, estas ferramentas utilizam a equação que nos dá a evolução da concentração ao longo do tempo do poluente no interior de um compartimento. Esta concentração depende da intensidade da fonte de emissão, num primeiro momento, e, depois, do caudal de ar novo que se vai utilizar para renovar o ar desse espaço. Claro que a dose de exposição também vai depender de as pessoas usarem ou não máscaras e do tempo de permanência. É muito diferente estar sujeito a uma dada concentração durante cinco minutos ou três horas.
É interessante ver a engenharia a entrar num espaço tipicamente considerado do domínio exclusivo da saúde…
O problema destas questões em Portugal, e até da OMS num primeiro momento, foi a abordagem monodisciplinar. Considerou-se que este tema tinha a ver apenas com as ciências da saúde. Aliás, acho que a Ordem dos Engenheiros (OE) deveria ter tido uma posição mais interventiva e actuante sobre este assunto.
A DGS não procurou envolver a engenharia nem outras especialidades. A OE foi contactada mais tarde apenas para os espaços hospitalares. Um erro?
O que acontece no corpo dos infectados tem a ver com as questões da saúde. Aquilo que se passa entre a boca ou o nariz de quem está a exalar e a boca ou o nariz de quem está a inalar é uma questão de engenharia, de mecânica de fluídos e tem a ver com a forma como se processam os escoamentos bifásicos. No caso dos aerossóis, temos um gás e, dentro desse gás, temos partículas. Depois, temos a maneira como os mecanismos de protecção funcionam e a forma como conseguimos diminuir a concentração. O efeito de variáveis, como a temperatura, a humidade, etc., são questões de engenharia. Há muitas normas e códigos sobre estes temas. Houve um pecado original na maneira como esta situação foi abordada. Criou-se um grupo de trabalho governamental para abordar a crise pandémica e deixou-se de fora a ciência. O ministro da Ciência ficou de fora. A abordagem deveria ter sido pluridisciplinar desde o início. Quando temos uma só perspectiva sobre uma coisa, há sempre algo que nos escapa, ficamos sempre com uma visão apenas parcial da realidade. Deveria ter sido nomeada uma comissão científica multidisciplinar e independente… Por outro lado, a maioria das pessoas que aparece na Task Force da DGS está identificada apenas pelo nome e não pela sua área de especialidade.
Do ponto de vista prático, as orientações recentes são suficientes? Como as avalia?
É preciso saber qual é a comunicação. O que senti desde o princípio foi que as recomendações nunca foram devidamente explicadas. O “porque sim” não é um bom princípio. Muitas das recomendações não estão tecnicamente correctas. O que estava escrito em algumas delas indiciava a total falta de domínio sobre as áreas da engenharia.
E em relação às terceiras recomendações?
Até agora, só foi pedido que me pronunciasse sobre uma – a que fala da ventilação dos edifícios e do ar condicionado. Entretanto, já se produziu alguma coisa sobre os transportes. Não se podem tratar os transportes de qualquer maneira e não há uma medida única para tudo. Há condições muito diferentes de modo de transporte para modo de transporte. Devia ter-se feito uma avaliação daquilo que temos. Não basta dizer “vamos reduzir a taxa de ocupação para dois terços”, porque é completamente diferente aquilo que temos nos autocarros urbanos e não urbanos, nas carruagens do metro, nos comboios de longo curso. A capacidade instalada em termos da renovação de ar é diferente de caso para caso. Nos últimos anos antes da pandemia, trabalhei no desenvolvimento de um pequeno equipamento (parece uma pen) que permite medir a concentração de CO2, de COV´s, a temperatura, a humidade, etc., e, durante um ano, monitorizei praticamente todos os modos de transporte por onde andei: aviões, autocarros, comboios, e sei que há uma diversidade enorme em termos de condições. Nalguns deles não há grande risco em trabalharmos quase com a lotação total, desde que as pessoas usem máscara, enquanto noutros deveriam ser tomadas medidas adicionais.
Voltando aos edifícios, as auditorias à QAI deveriam voltar com outro modelo? É urgente fazê-lo novamente de uma forma obrigatória?
Eu acho que sim, até porque estamos há mais de sete anos com uma legislação que diz quais são os requisitos em termos de caudais de ar novo, mas sem qualquer esquema de inspecção ou verificação. Temos uma legislação que estará bem adaptada a funcionar num cenário destes de pandemia, porque é das poucas em que os requisitos de ventilação são proporcionais à intensidade da fonte. Na nossa legislação, o caudal de ar novo é proporcional à taxa de actividade das pessoas. Num ginásio, por exemplo, exalamos cinco a seis vezes mais do que quando estamos em repouso. Publicámos esta legislação, temos definidos estes caudais, as concentrações máximas que não devem ser excedidas para os vários poluentes, mas nunca houve qualquer fiscalização. Quando temos de ventilar mais, a factura energética sobe e de certeza que há muitos casos em que os sistemas de AVAC não estão a funcionar como deve ser. Sem verificação, nunca vamos saber.
Qual seria para si o modelo ideal em termos de fiscalização?
Deveria haver uma versão simplificada da inspecção que poderia ser feita, tipicamente, com base em dois poluentes, eventualmente, três, que seriam o CO2, os COV´s e as partículas. As partículas a considerar em ambientes mais poluídos e quando se detectassem situações muito graves. Com este tipo de avaliações, podemos despistar muita coisa. Em situações de locais pouco arejados, muitas vezes, basta medir a concentração de CO2 e saber a taxa de ocupação do espaço para perceber que algo precisa de ser corrigido.
E no caso dos sistemas que só fazem recirculação de ar?
Em princípio, não haverá tantos sistemas a trabalhar em recirculação total. Se falarmos em edifícios residenciais ou de serviços, a realidade é diferente. Há sempre a possibilidade de termos alguma ventilação com grelhas autorreguladas. Mas, sobretudo, é preciso ensinar as pessoas. Muitas vezes, as pessoas têm medo de abrir as janelas e já perguntam, inclusivamente, se o vírus pode vir lá de fora. Há aqui uma fase de divulgação dos conceitos que é importante. Mas estou convencido de que o número de edifícios só com recirculação não é alarmante. Mesmo antes de 2006, antes de termos o SCE, já havia normas e bons projectos.
A saúde entrou com toda a força como uma prioridade. Vai haver uma nova visão, uma mudança na forma de trabalhar?

Acho que é inevitável. Aquilo que eu gostava de fazer é dar continuidade a uma ferramenta que estou a desenvolver para fazer o cálculo da dose. Estou a testar essa ferramenta com o resultado de casos conhecidos para, de alguma forma, chegar a valores que são os tais limiares de infecciosidade. Até agora, tínhamos uma legislação e um pacote normativo que assentava essencialmente em valores de referência, que tinham a ver ou com os poluentes químicos ou com as partículas. O nosso processo de definição do caudal de ar novo passa por não ultrapassar o valor de referência e ver qual a quantidade de ar em função da fonte poluente. Ora, provavelmente o que vai acontecer é que, em vez de trabalharmos com valores de referência de CO2 ou de partículas, vamos começar a trabalhar com valores de referência de carga viral. Já seria muito bom que tivéssemos a generalidade dos nossos edifícios a cumprir a legislação existente.
Já existia na legislação alguma protecção para aquilo que se designa como espaços destinados a pessoas sensíveis – os mais idosos, crianças, etc. Se houvesse inspecções de QAI em que fosse verificado o cumprimento da legislação existente, muito provavelmente, os problemas com os lares de idosos não se teriam verificado com a magnitude que ocorreram. A lição que tivemos é a de que este vírus é agressivo e perigoso nos espaços onde estão pessoas mais frágeis. A nossa legislação para este tipo de espaços deverá, ainda assim, ser adaptada e passar a ter requisitos mais exigentes. Já que vamos mexer na QAI, também deveríamos mexer na lei do tabaco. Ainda se pode fumar em locais fechados e há evidentes contradições científicas na lei. Com os caudais recomendados para os espaços para fumadores, não se consegue de todo cumprir os valores de referência para as PM10 e PM2.5 (teriam de ser mais de dez vezes superiores ao que aparece na legislação), e já somos praticamente uma excepção na Europa!
Este artigo foi originalmente publicado na edição nº 131 da Edifícios e Energia (Setembro/Outubro 2020).